Não há saída da pandemia sem olhar para todos, diz Jurema Werneck

Nesta quinta-feira (14), a ONG de luta pelos direitos humanos Anistia Internacional Brasil lança a campanha Nossas Vidas Importam, cobrando das autoridades brasileiras medidas para garantir o acesso a proteção contra a Covid-19 a populações vulneráveis, como moradores de favelas e periferias, pessoas em situação de rua, idosos em asilos, indígenas, quilombolas, travestis e transexuais, população carcerária do sistema socioeducativo, além dos profissionais de saúde.
À frente do escritório brasileiro da instituição nascida em 1961 na Inglaterra, a diretora-executiva Jurema Werneck traz o olhar de quem viveu na pele as injustiças sofridas por essas pessoas. Negra, nascida na favela, aos 14 anos ela viu sua mãe, Dulcineia, morrer de aneurisma cerebral, em um caso de negligência médica. "A experiência dela adoecer e morrer foi de desassistência", diz. "Quando estudei neurocirurgia, pude ver o quadro clínico dela: era exatamente o que estava no livro. Ou seja, todo mundo que era médico leu. Mesmo assim, ela foi medicada com analgésico, e era um caso grave", lamenta.
Jurema se formou em medicina pela UFF (Universidade Federal Fluminense) em 1986, fez mestrado e doutorado na UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro). Integrou, ao longo de sua trajetória, o Grupo Assessor da Sociedade Civil da ONU (Organização das Nações Unidas) Mulheres Brasil e o Comitê Técnico de Saúde da População Negra do Ministério da Saúde. Em 1992, ela fundou a ONG Criola, voltada para meninas e mulheres negras.
Nascida no Morro dos Cabritos, em Copacabana, na zona sul do Rio, ela nunca havia pensado em estudar medicina até as vésperas do vestibular. "Nós éramos muito pobres. Mas a gente tinha obrigação, dever, duro, marcação cerrada de estudar até a universidade. Tinha essa mobilização da família inteira, da vizinhança e dos colegas de trabalho do meu pai que davam recursos, comida", conta. Os pais, ao ver no noticiário pessoas como a cantora e compositora Leci Brandão e a filósofa Angela Davis, lhe diziam: "Presta atenção, elas estudaram."
Sobre a pandemia, reforça que não é apenas necessário encontrarmos a vacina, mas vacinarmos igualmente a todos, talvez o maior desafio no 7º país mais desigual do mundo.
A campanha da Anistia reúne urgências de populações mais vulneráveis, organizadas por movimentos sociais. A médica destaca a importância de ações de moradores de favelas na pandemia, mas lamenta que eles tenham de "arcar com as injustiças que vivem". É justamente para direcionar as devidas demandas a autoridades responsáveis que nasce a Nossas Vidas Importam. Hoje (14), às 19h, ela será lançada no canal da ONG. Ecoa conversou com Jurema sobre a iniciativa e sobre a sua trajetória.
Qual o objetivo da campanha?
Nosso objetivo é que ela contribua para as autoridades fazerem o que devem fazer. Ela é desenvolvida com os sujeitos, ou seja, o que está sendo colocado está sendo colocado por eles: a Associação Nacional de Travestis e Transexuais, as organizações negras, as organizações de favelas, organizações de direitos humanos, de pessoas encarceradas ou que trabalham com elas, organizações indígenas ou que trabalham com indígenas, a Conaq (Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas), o Movimento Nacional de População em Situação de Rua. Tendo um olhar para outra população vulnerável que são os profissionais de saúde, e daí contamos com a parceria da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade e da Abrasco (Associação Brasileira de Saúde Coletiva).
São esses sujeitos que estão falando o que precisa ser feito de urgente. A Anistia contribui como megafone, para que eles falem de forma articulada. Porque algumas propostas são comuns. Muitas coisas que funcionam para as pessoas que estão na rua funcionam para as travestis e transexuais, por exemplo. E várias delas para quem está na favela, na periferia. Essa campanha é isso: a gente quer, ao longo de três meses, fazer com a que a voz dessas pessoas ajude a liderança a liderar. Ou que essas pessoas sejam liderança das soluções de outra forma. Elas já estão muito dedicadas às respostas emergenciais locais. Mas nossa contribuição é trazer a voz delas, a experiência delas, as soluções que têm para o nível nacional, porque as saídas que elas estão propondo podem ser, de certa forma, generalizadas.
O que as próprias pessoas das favelas estão fazendo pode ser considerado uma política de redução de danos?
Sim. A gente sabe a que custo, meu Deus do céu. As pessoas já têm uma carga aumentada de tudo isso. A morte ali está mais perto. Todas nós e todos nós estamos vendo a morte muito perto, mas aquelas pessoas estão ali, vendo a sua avó, seu tio, sua mãe, seu pai, seu vizinho, a colega de escola. Já havia isso com corpos mortos pela violência. É muito injusto que essas pessoas tenham que arcar com as soluções da injustiça que experimentam.
De que forma uma autoridade que viole esses direitos [da população] pode ser responsabilizada?
A Constituição já diz da responsabilização. Os tratados de direitos humanos já dizem da responsabilização. Mas a nossa preocupação não é chegar na fase da responsabilização pós-morte. A gente quer que as vidas sejam salvas.
A metodologia da Anistia é mobilizar pessoas. O que a gente quer falar para a autoridade, mas também para a população, é: "Olha, está certo, você já está doando um recurso, cesta básica, kit de higiene, palavras de apoio. Mas doe mais, doe também ação de pressão sobre as autoridades. Doe um tempo para fazer isso, porque a resposta precisa ser sustentável. Precisa de fato garantir que essas pessoas tenham condição de viver."
Pode até deixar de ter uma pandemia, mas aqui no Brasil vai continuar tendo epidemia por muito tempo. Embora eu ache que não vai deixar de ser pandemia, ainda que com incidência menor em alguns países.
Então não é só criar uma vacina final do ano ou daqui a um ano. Enquanto toda a população não for vacinada, a epidemia vai estar por aí. E não pode ser igual a tuberculose, que a gente tem uma vacina, mas tem alta mortalidade de negros e negras, alto grau de infecção de indígenas. Existe vacina há quanto tempo, mas não se cuidou de todo mundo. A Rocinha, aqui no Rio de Janeiro, batia recordes de mortes por tuberculose.
Jurema Werneck, diretora da ONG Anistia Internacional Brasil
Pesquisas nos EUA e no Brasil apontam para um maior risco de morte de pessoas negras por Covid-19. Como contextualizar isso?
A campanha quer chamar atenção exatamente para a necessidade das autoridades sanitárias tomarem medidas que atendam às populações negligenciadas. A população negra entre elas, mas não apenas. Conforme a autoridade sanitária de todas as esferas — federal, estadual e municipal — apresenta como resposta à Covid-19 o isolamento social e as medidas de higiene sem garantir para essas populações o acesso a isso é uma negligência. No SUS (Sistema Único de Saúde) já sabem que grande parte da população está excluída do acesso a muitas dessas soluções. Inclusive a internet, boa porque boa parte das soluções está sendo mediada por ela. Tem um "esquecimento" ativo, por isso eu estou definindo como negligência.
A maior letalidade da Covid para negros e negras, que são moradores de favela, de periferia, população que está em situação de rua, gente que está na prisão, gente que está no sistema socioeducativo — que também estão na nossa campanha — está ligada a essa discriminação histórica. E ela tem vários níveis, desde a falta de condições de vida, ou seja, a forma como essas pessoas vivem, que expõe elas, por exemplo, agora, à infecção da Covid, mas também à hipertensão, ao diabetes descompensado. O SUS já sabe disso. E qual a medida tomada? Nenhuma. O dado fica guardado na prateleira como se não fizesse sentido.
Fora isso, o SUS também sabe que ele não chega a essas pessoas como deveria. Que a Estratégia de Saúde da Família, fragilizada como está, não está suficiente para cuidar das pessoas, porque parte dela foi desmantelada com o fim do programa Mais Médicos, com subfinanciamento etc. Estão esperando que essas pessoas, quando piorem, se dirijam ao serviço de saúde mais próximo — só que esse mais próximo, no caso dessas pessoas, é lá longe. Esperam que elas peguem trem, ônibus, barco para chegar no serviço de saúde mais próximo. Sabendo que tem dificuldade, que não há recursos para o transporte. Tudo isso já era conhecido.
Como o fenômeno aconteceu na China, no fim do ano passado e no início deste ano, já se podia imaginar que chegaria aqui. Quando chegou, nas classes altas em São Paulo ou em Brasília, já era possível depreender que os funcionários dessas pessoas estavam em risco. Porque já se sabia que muitas mantêm uma relação escravocrata: apesar de estarem infectadas, iam querer seus empregados ali, em vez de ficar 100% em isolamento. A mortalidade de negros está ligada a isso: essa negligência apoiada no racismo.

Você está falando com conhecimento de causa. Até hoje, temos poucos médicos negros?
Agora tem bem mais. No meu tempo, nem compara. Tem um grupo de WhatsApp do qual faço parte, que esse fim de semana estava sendo reorganizado, só de mulheres negras, e tem uma fila de gente querendo entrar. A decisão está sendo abrir um outro grupo, porque não cabe mais. Eu não saio desse grupo porque acho isso um luxo. Lotado, e já vão fazer um segundo. Médicas e estudantes de medicina.
Acha que isso também faz diferença na forma de exercer a medicina?
De várias maneiras. Como eu disse, no fim de semana as administradoras do grupo estavam revendo para ver se abria vaga e descobriram que a maioria das médicas ali é de medicina de família e comunidade. Ou seja, elas vêm dessas comunidades e continuam lá. A gente sabe que o Brasil tem uma dificuldade de boa parte dos profissionais de medicina se interessarem por essa população. Tivemos de importar médicos cubanos, europeus etc. para trabalhar com populações negligenciadas. E essas médicas e médicos voltam para casa.
Uma colega falou que chegou no plantão, a enfermaria estava lotada de gente com Covid grave e tinha uma pessoa sem oxigênio. Ela escreveu no grupo: "Adivinha quem era?". Era um jovem senegalês preto retinto. Ela remanejou tudo para que ele também tivesse acesso a oxigênio. Pois quem estava lá antes considerou que podia deixar ele sem. Faz uma diferença. A diferença da vida e da morte, em muitos casos.
É preciso lembrar que — não se compara ao meu tempo ou ao de uma amiga minha, Joice Aragão, que é de uma geração anterior, já aposentada —, mas ainda somos muito poucos. E isso não isenta os outros médicos e médicas de fazer cumprir o seu dever, inclusive de não discriminar. De não fazer o que fizeram com o jovem senegalês.
Quando optou pela medicina, você pensava isso?
Para ser sincera, eu nunca tinha pensado em fazer medicina. Nós éramos muito pobres. Mas a gente tinha obrigação, dever, duro, marcação cerrada de estudar até a universidade. Fazer o máximo que a gente pudesse. Meus pais não haviam estudado: meu pai chegou ao ensino médio depois que minha mãe já tinha morrido e adulto, quando a gente já estava na universidade. Mas tinha essa mobilização da família inteira, da vizinha e dos colegas de trabalho do meu pai, que davam recursos, comida. As patroas da minha avó, às vezes. Quem não podia dar nada de material dava em incentivo: a gente tinha que estudar de qualquer jeito.
Mas eu tinha lá meus problemas em relação à escola. Eu tinha déficit de atenção e interesse em desenho, música, artes, o que para uma menina muito pobre não fazia o menor sentido, não tinha a menor chance. Quando chegou a época do vestibular, na minha época era um vestibular unificado, Cesgranrio, tinha um formulário enorme para a gente fazer a inscrição. Era o último dia. Meu pai saía para o trabalho cedo, pegou o formulário e foi revisar antes de ir. Ele olhou e falou: "Ih, está faltando a carreira, qual é?". Eu disse: "Não sei, pai." Ele trabalhava na época na Aeronáutica, não sei se ele ainda era porteiro, depois ele virou auxiliar de serviços gerais de laboratório, e tinha conseguido uma brecha para que eu fizesse uma coisa pela qual os filhos de oficiais passavam, que era o teste vocacional. Ele conseguiu para mim, porque eu não tinha a menor condição de decidir. Aí fiz e não foi conclusivo, porque deu artes na frente. Naquele dia então, ele falou: "Diz logo o que bota, eu tenho que sair." Eu: "Ah, bota medicina (risos)." Foi assim que eu terminei fazendo. Estudei para o vestibular e, ao mesmo tempo, fui no Senac e me inscrevi para o curso de fotografia. Pensei: "Eu não vou passar no vestibular, e na sequência eu faço fotografia." Apesar de que a gente não tinha nenhuma máquina fotográfica em casa. Mas passei na medicina.
Vocês eram quantos em casa nessa época?
Eu tenho dois irmãos, um mais velho e um mais novo, e tinha uma irmã, que não morava com a gente, era adotiva, e faleceu ano passado. Os filhos eram quatro. A minha mãe morreu quando eu tinha 14 anos, então na época do vestibular ela já não estava lá, mas tinha a minha avó e minha bisavó. Dentro de casa, éramos esses: pai, avó, bisavó, eu e meus dois irmãos.
Você cresceu no Morro dos Cabritos (em Copacabana, zona sul do Rio), certo?
Eu nasci no Morro dos Cabritos, moramos lá um tempo, depois fomos para a Penha, na zona norte, onde ficamos pouco. E, finalmente, quando o meu pai conseguiu emprego de auxiliar de serviços gerais na Aeronáutica — uma das razões pelas quais ele procurou esse trabalho foi porque sabia que a Aeronáutica oferecia casa, a gente tinha sido despejado de onde morava —, então a gente passou a morar numa vila de civis. E era escalonada: os civis de mais baixa 'patente' as casas eram piorezinhas, aí subia até a casa dos oficiais. Era na Ilha do Governador: o bairro não existe mais, a construção do aeroporto (Galeão) extinguiu ele. Eu devia ter uns seis anos.
E como você foi se envolvendo com a medicina, depois dessa escolha no susto?
Eu acho que foi no susto, mas tem outras influências. A minha mãe morreu, quando eu tinha 14 anos, de um aneurisma, mas a experiência dela adoecer e morrer foi de desassistência. Eu fui uma criança asmática, eu e meu irmão mais novo. Meu pai era porteiro do hospital, então pedia favor para a gente ser atendido. Quando tinha uma brecha, de noite, perto do jantar, a gente conseguia ir lá para um médico tratar da gente. Minha mãe morreu antes do SUS. Então eu já sabia a necessidade da medicina na vida da gente. O meu irmão mais velho fez medicina, exerce até hoje. É cardiologista, atua na emergência. Então eu já tinha a experiência positiva do meu irmão fazendo medicina na UFRJ e a experiência da desassistência. Eu não tinha interesse particular na medicina, mas eu sabia a pertinência.
No ano em que eu entrei, comecei a participar do diretório acadêmico. Também de um projeto que tinha de saúde comunitária numa favela lá de Niterói (RJ). Você vai achando conexões, um lugar para ficar. Ainda que tenha sido a minha experiência de encontrar gente rica — nem sei se eram ricos mesmo, mas eu era tão pobre que era impressionante ver aquelas pessoas com tanta coisa. Era um outro mundo. Não era fácil. Não era bom estar lá. Estudei na Federal Fluminense (UFF). Lá tem o Instituto Biomédico, onde todas as carreiras, Biomedicina, Biologia, Farmácia, Enfermagem, Odontologia fazem o curso básico. E, como eu era uma das poucas negras, as pessoas me paravam no corredor e me perguntavam o que eu estava fazendo lá. Um professor de fisiologia, para falar de alguns funcionamentos do corpo, fazia piada com negros, imagina de que qualidade. Fora que eu não tinha dinheiro para ficar lá. Não tinha livro, roupa. Minhas amigas compartilhavam refeição comigo. O livro era de biblioteca, emprestado. Ou seja, não era fácil. Mas eu estava lá e eu ia ficar lá.
E tinha uma coisa interessante que eu só realizei muitos anos depois. Que era uma vizinha, esqueci o nome. Duas, três casas perto da minha. Uma senhora alta, negra, o cabelo dela era todo branco e ela usava um coque no alto. Eu saía de manhã para a faculdade, cedo, porque curso de medicina é o dia inteiro. Tinha dia em que a aula começava às sete, então às vezes era muito cedo. E ela de manhã estava lá e dizia: "Bom dia, doutora." E eu respondia: "Bom dia, mas eu não sou doutora, estou estudando." E, quando eu voltava à noite, ela dizia: "Boa noite, doutora." E bairro pobre, vizinhança pobre, todo mundo passava mal, e as pessoas iam buscar a gente em casa, pedir ajuda.
Ou seja, essa coisa desse reconhecimento que essa senhora tinha, a mensagem que ela dizia era que era importante eu ser doutora. E esse chamado de ajuda permanente vai mostrando pertinência. Não é uma viagem pessoal, "vou fazer uma carreira bacaninha". Tem um lugar.
Jurema Werneck, diretora da ONG Anistia Internacional Brasil
E desde o início foi se misturando com a questão social?
Desde antes. Isso era de casa. Olhar para a realidade e fazer a crítica social, ver o que estava errado, ler o racismo, entender o impacto do racismo, isso já vinha de casa. Meus pais já tinham uma visão crítica, e olha que era ditadura. Porque eu tinha dificuldade na escola, esse déficit de atenção, eles me apresentaram duas pessoas em quem eu tinha que me espelhar como modelos. Sempre que havia notícias, eles diziam: "Presta atenção, elas estudaram." E essas pessoas eram Leci Brandão e Angela Davis. Era o modelo ativista, não só de gente que estudou. Eram duas mulheres negras, famosas, importantes, mas elas estudaram.
Conforme sua condição econômica mudou, o racismo se apresentou de maneira diferente?
É, mas ele é sempre o que é, racismo, exclusão. É claro que eu experimentei outra condição econômica desde que me formei, mas não deixei de ser uma mulher negra. Dois passos na rua, ninguém repara se você ganha salário mínimo, se você não ganha salário — você continua sendo uma mulher negra. Isso não faz muita diferença. Mas passei a frequentar outros lugares, inclusive, por conta do meu trabalho, outros países.
Antes, era a experiência de não ter o que comer, o que calçar, ser parada no corredor da faculdade, de ouvir o professor falar que negros fedem — professor de fisiologia, ele não tinha nenhum elemento, nenhuma evidência, mas mesmo assim falou. Estou dizendo a experiência cotidiana, fora o resto todo da tragédia. Minha mãe morreu e, quando eu estudei neurologia, neurocirurgia, eu pude ver o quadro clínico dela: era exatamente o que estava escrito no livro. Ou seja, todo mundo que era médico leu. Mesmo assim, ela foi medicada com analgésico, e era um caso grave.
Esse tipo de coisa eu não experimento mais, mas tanta gente experimenta. E não é gente lá longe, que eu não conheço. É gente da minha família, que é grande. É gente próxima: amigos, amigas. Porque eu não moro mais na favela, mas conheço muita gente que mora, parte da minha família. E gente que eu nem conheço e às vezes tem uma necessidade e manda uma mensagem, pede socorro. A gente continua pedindo socorro. Na minha experiência pessoal, a parte material mudou. Não se compara. Eu não tenho que me esconder de tiro aqui na minha casa, na zona sul do Rio.
Já são mais de 30 anos da sua formatura. Como você, pessoalmente, sente as mudanças que a gente viveu?
Eu quase não paro para pensar, estou sempre olhando para o que precisa ser feito, não o que foi feito até aqui e os resultados. Mas acho que as bases do que precisa ser feito são diferentes. Isso é uma vantagem que não tem tamanho. Já tem um consenso de que tem racismo. No entanto, ele está sendo desafiado e ameaçado não pelo discurso contrário, que diz que não tem racismo, mas pelo que diz: "Tudo bem." Ou seja, o desafio é outro, mas continua existindo um desafio. Enquanto o racismo não desaparecer, não passa. É igual ao vírus: enquanto a gente não tiver a vacina e todo mundo estiver vacinado, o desafio continua lá. A gente muda o território de disputa, mas continua. É muito bom ter um grupo do WhatsApp lotado de médicas negras, a gente tem ferramentas diferentes para lutar, mas o racismo é o que é. A diferença é quando ele desaparecer. Ele está em todo lugar, e aqui é muito violento. Aqui ele é desinibido. Diminuiu um pouco à medida que lei antirracismo estava ganhando legitimidade, mas, com os políticos que a gente tem, que estão tentando destruir a legitimação dessa lei, a desinibição continua.
Seu pai é vivo?
Não, não. Os mais velhos da minha família todos morreram. Os negros morrem cedo. Só tem eu e meus irmãos. A minha irmã mais velha, que era branca, adotiva, morreu também. Ela morreu no SUS. E, apesar de eu ser médica, meu irmão ser médico, eu contar com o apoio daquelas médicas e estudantes de medicina, médicos e médicas, daqueles que entraram por ação afirmativa. Eles ficaram tentando garantir que a minha irmã tivesse tudo que fosse preciso dentro do hospital do SUS. Mesmo assim, ela não teve.
Que cenário você imagina para um Brasil pós-pandemia, se não houver plano efetivo de combate?
Primeiro que o pós-pandemia fica muito mais longe, não é? O pós-pandemia está muito mais lá para frente. A epidemia fica por aqui mais tempo, muito mais tempo. Segundo, o que já está vindo, o sistema de saúde quebrado, a economia quebrada, a incapacidade dos gestores em fazerem cumprir os direitos sociais, ou seja, a renda básica, porque a gente está com a emergencial, mas estamos falando de direito de renda básica, de direito à saúde, de moradia, transporte, tudo isso vai estar prejudicado. Dez mil mortes, agora já são mais de 10 mil [até fechamento deste texto, o Brasil contabilizava mais de 13 mil mortes]. Já é uma dor e um trauma que não se cura de uma hora para outra. Se é fato que a gente multiplica os infectados por 15, a gente tem uma população que em grande parte já estava prejudicada com uma carga de doença anterior, sobrecarregada pela passada do coronavírus, uma população que vai demandar mais ainda o sistema de saúde que já vai estar quebrado. A expectativa não é boa.
Preocupa a mim que as autoridades tenham dado poderes à área de segurança pública e parte da população, inclusive de acesso às armas, numa sociedade que já está e vai estar tão fragilizada. Porque o cenário é catastrófico, de dor e sofrimento maiores do que já temos, mais prolongado, então a gente tem de interromper, fazer alguma coisa para que quem tem o dever de tomar uma atitude tome. O mundo inteiro já está preocupado com o Brasil, e a Anistia Internacional está no mundo inteiro. O mundo vai ajudar, mas é preciso que as autoridades do Brasil façam a sua parte. Não dá para entregar essa conta na mão dessas pessoas que estão sem renda agora, desesperadas na fila da Caixa. Não se pode fazer o que está sendo feito: entregar a um banco fazer a política pública de assistência social. Não se pode deixar que isso continue assim. Banco é banco, política pública é outra coisa. Não se pode naturalizar isso.
Não pode ser esse salve-se-quem-puder. A nossa campanha é para que a gente possa atravessar tudo isso junto. Primeiro na resposta à saúde e depois em todas as outras respostas. O chamado da Anistia é: "Vamos atravessar isso juntos." Mas, para isso, tem que olhar para essas pessoas. Não temos saída. Este planeta aqui é onde a gente mora.




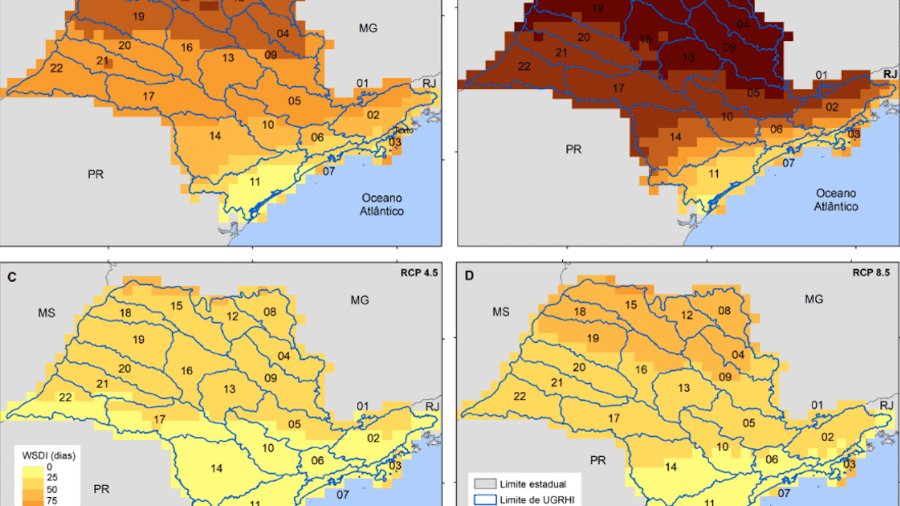







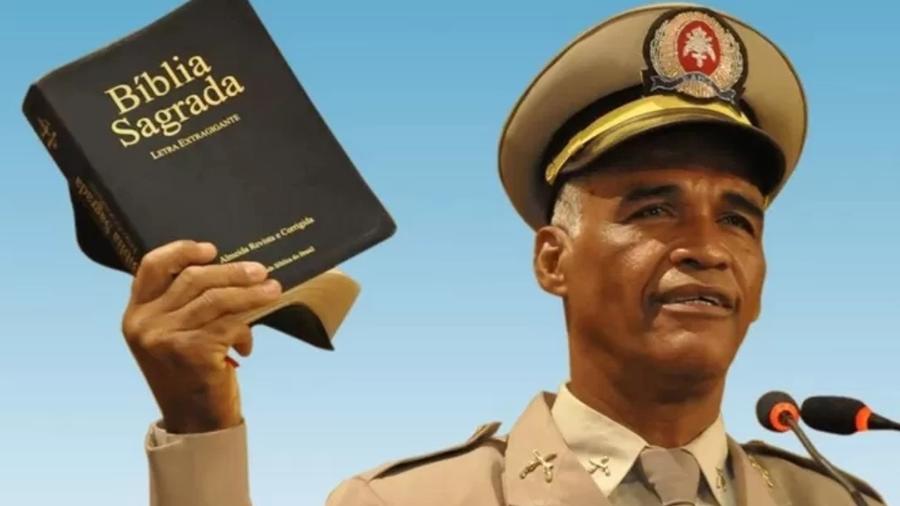




ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.