Coletivos negros na medicina lutam por mais 'Thelmas' e saúde democrática

Única negra entre os cem alunos da turma. A história de Thelma Assis, 35, é semelhante a de muitos estudantes negros que ingressam no curso de medicina em universidades brasileiras. O caso da paulistana formada pela PUC (Pontifícia Universidade Católica) de Sorocaba (SP), com bolsa integral do Prouni (Programa Universidade para Todos), virou símbolo de luta e representatividade com sua vitória no BBB20, mas é também um exemplo das desigualdades raciais que persistem no país.
Nos últimos dez anos, o apoio de políticas públicas como a lei 12.711, de 2012, conhecida como Lei de Cotas, tem sido importante para tornar o cenário menos desigual — em 2018, o número de estudantes negros em universidades públicas (que encabeçam o ranking das melhores do país) foi, pela primeira vez, maior que o de brancos (50.3%), espelhando melhor a composição étnico-racial da população brasileira.
No entanto, pretos e pardos ainda são minoria nos cursos mais concorridos. A formação em medicina lidera essa discrepância, à frente da graduação em odontologia.
"Antes de prestar vestibular, sentia que ser médico não me cabia. Que não era pra mim", diz Vinicius Miranda, 27. Nascido em Salvador, ele se formou pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). Filho de uma dona de casa e de um profissional autônomo, Vinicius trabalhava em uma fábrica de produtos para animais quando resolveu cursar, aos 17 anos, bacharelado interdisciplinar em saúde.
Na minha infância e adolescência, eu nunca fui atendido por uma médica ou um médico negro. Então, cursar medicina sempre foi muito distante da minha realidade. Como se imaginar em um lugar em que você não vê pessoas iguais a você, com as mesmas histórias, vindas do mesmo lugar de onde veio?
Vinicius Miranda, médico formado pela UFRB
A UFRB fica no município de Cruz das Almas, na região do Recôncavo Baiano. "Existe um motivo para uma universidade federal estar onde ela está. Ali, a maioria é negra. E isso é uma questão muito forte, porque você se identifica, se reconhece. Nos corredores, em encontros de semestre, passei a ter contato com psicólogos negros, nutricionistas negros. E fui percebendo que eu poderia, sim, escolher um curso que estava longe da minha realidade financeira, mas que ali se mostrava possível. Difícil, mas possível", diz ele.
Em 2013, o jovem concluiu o bacharelado e, com as notas obtidas ao longo do ano, conseguiu ingressar em um novo curso da UFRB. Criada em 2006, a universidade baiana formou, em 2019, a sua primeira turma de medicina. Doze estudantes negros — 40% de uma turma de 29 — receberam o diploma. Entre eles, Vinicius.

Quanto mais 'caro' o espaço, mais branco
Hoje, Vinícius atua como clínico-geral e cuida da saúde de moradores da zona rural de Sapeaçu, cidade a cerca de 160 km de Salvador. Já Francine Lima, 30, sua colega de turma, faz residência em medicina de família e comunidade. Apesar de áreas distintas, os dois se reconhecem em situações dentro e fora do campo profissional.

A mesma percepção tem Francine quando participa de eventos e congressos relacionados a medicina.
Quanto mais 'caro' o espaço que a gente adentra, menos negro a gente vê. Ali, os temas discutidos pouco dialogam com a realidade dos nossos, da nossas famílias que vivem em comunidade. Por isso, quando participei do encontro nacional do Negrex, em Salvador, fiquei maravilhada. Foi a primeira vez que vi tanto médico preto junto falando sobre sobre a realidade que vivi.
Francine Lima, médica formada pela UFRB

Representatividade melhora a saúde
O Coletivo NegreX surgiu em 2015, durante congresso de estudantes de medicina, em Belo Horizonte. A partir daí, o grupo buscou ampliar ainda mais o tema por meio de intervenções no currículo médico, organização de simpósios e execução de espaços de formação no movimento estudantil.
"Nossa saúde é negligenciada há anos. Em um país em que mais de 50% da população é negra, o fato da questão racial não ser discutida em cursos médicos é, do ponto de vista epidemiológico, gravíssimo. Porque você acaba perpetuando condutas, processos, tratamentos, sem revisar se aquilo serve a um tipo específico da população. E isso viola um dos princípios básicos do SUS (Sistema Único de Saúde) que é a equidade", diz Monique França, 30, médica formada pela UERJ (Universidade Estadual do Rio de Janeiro) e cocriadora do NegreX.
O coletivo também atua como uma oportunidade de acolhimento e troca de experiência entre estudantes que se veem em meio a um cenário majoritariamente masculino, branco e elitista.
"É difícil, em especial para um negro retinto, de origem humilde, se enxergar e se sentir pertencente ao ambiente da universidade. Estar em grupo, saber que meus iguais me compreendem e me acolhem faz uma diferença brutal", comenta Julia Rocha, 37, médica de família e comunidade que atende pelo SUS, em Belo Horizonte, e colunista de Ecoa.
As discussões a respeito da saúde da população negra com toda sua especificidade avançaram muito desde que médicos e médicas negras começaram a se organizar coletivamente.
Julia Rocha, médica e colunista de Ecoa
Para a mineira, apesar do avanço com políticas públicas, atualmente as turmas de medicina que se iniciam são, em sua maioria absoluta, brancas. Por isso, é vital o apoio do coletivo. "Não que tenhamos que enfrentar ou lutar contra nossos colegas brancos dentro do curso. As questões são bem mais complexas. A gente luta contra uma estrutura racista que inclusive molda nossa subjetividade e nos impede de aceitar que ali também é nosso lugar", afirma.
Atualmente, o Coletivo NegreX conta com mais de 400 participantes, entre médicos e estudantes, de todo o Brasil. "Os encontros foram o meu grande 'sustento' durante a graduação. A troca de experiências, o apoio em nossas inseguranças e a perspectiva de uma medicina muito mais plural, com estudantes e médicos negros, LGBTs, me fortaleceram e ajudaram a continuar", finaliza Vinicius.
Cursinhos populares: trilhando caminhos

Monique França acredita que a estrutura do ensino base, aliada a política de cotas e ao trabalho de coletivos em fazer chegar nas periferias informações que garantam o acesso às universidades, é o que permite que espaços elitizados sejam cada vez mais democráticos.
"Não adianta abrir uma universidade para pessoas pobres se não existe condições para que ela chegue ao vestibular. É preciso que as pessoas tenham conhecimento do que são as cotas, do que é preciso estudar. É um conjunto de fatores. Sem políticas de Estado, esse acesso fica inviável", diz.
Para o professor de geografia da rede municipal de ensino de São Paulo, Rafael Cicero, 34, a criação de cursinhos populares ajuda quem não tem condições de pagar por uma preparação maior. "Eu trabalhava como auxiliar de pedreiro, ganhava R$ 240 por mês. O cursinho, na época, custava R$ 230. Me sobrava R$ 10. Mas, ainda assim, eu tinha condições de pagar. E quem não tem?", questiona Rafael, que nasceu em Itapecerica da Serra (SP) e se formou pela Universidade Estadual de Londrina (UEL).
Hoje, ao lado de outros professores da rede pública, Rafael coordena a Ubuntu, uma rede de cursinhos pré-vestibulares que oferece aulas gratuitas para jovens moradores da zona sul de São Paulo. "Nosso corpo docente, de alguma maneira, viveu uma experiência de exclusão na educação. Por isso entendemos a importância de dar continuidade a essa luta de cursinhos populares", diz ele.
A rede Ubuntu começou em espaços cedidos dentro de igrejas, no Jardim Ângela e no Capão Redondo, e hoje tem cinco unidades, 60 professores e 350 alunos.
Nós que trabalhamos com cursinhos populares e viemos de periferias sabemos a importância do estudo de qualidade. Para muitos alunos, cursar uma universidade não é só mais uma etapa de vida: 'Ah, terminei o ensino médio e agora vou para faculdade'. Ingressar no ensino superior é a chance real de uma ascensão social. Foi o que transformou a minha vida e me permitiu a lutar, ao lado dos meus colegas, por uma educação de qualidade para todos.
Rafael Cicero, professor da rede Ubuntu



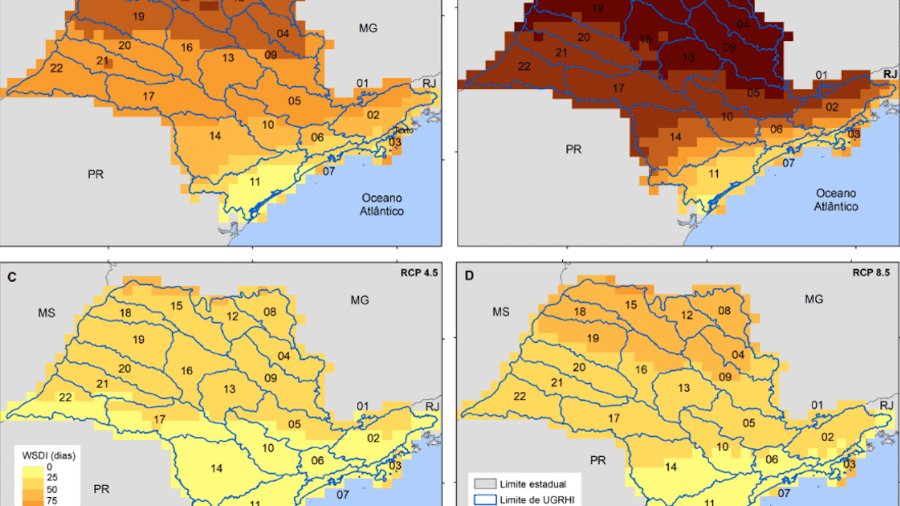













ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.