A nudez que experimentamos no amor: uma entrevista com a poeta Mar Becker

A poesia brasileira contemporânea tem ocupado as mãos, as vozes, as prateleiras, os festivais. Diversa, múltipla, tem nos devolvido o mundo e o tempo que é nosso, mas que anda capturado pelas telas — e nos devolve às vezes por meio da própria tela.
A poesia de Mar Becker me chegou pelas redes sociais, mas é, como poesia, desapressada. Entre vapores e névoas, assoma uma janela aberta, de boca escancarada, que mostra e diz o corpo de mulher, o amor, a casa, os objetos ínfimos, a anorexia.
A poeta de Passo Fundo, que foi finalista do Prêmio Jabuti com o livro "A mulher submersa", publicado em 2020 pela Urutau, é autora também de "Sal" e "Canção Derruída", que reúne num só volume as obras anteriores (os livros saíram pela Assírio & Alvim respectivamente do Brasil e de Portugal). Mar me concedeu uma conversa por email em que conta de sua escrita, suas interlocuções e seus próximos projetos. Não vou dizer muito: as respostas dão notícias de até onde pode chegar seu poema.
Em seus poemas, a hora entre a noite e o dia, quando os pássaros não cantam, é a hora do amor, quando "a palavra dita ainda guarda toda a língua." Qual é a hora do poema? E a hora cotidiana da sua escrita?
Sinto que a palavra em mim mora no interstício, nos pontos de fuga; não há ocasião ideal para escrever, penso. De repente uma ideia surge, carreada por alguma notícia, uma cena banal, uma lembrança, os escombros de algum sonho, um fio de sombra. Qualquer coisa. Meu exercício tem sido o de alcançar um corpo absolutamente poroso, atravessável (despi-lo até sua hora de pedra-pomes, fantasma, voal), de modo que mesmo as matérias mais tênues (da língua, das casas, das vidas) possam tocá-lo, interpelá-lo. Mesmo feri-lo.
Nesse sentido, estou em atividade de escrita o tempo todo, ainda que não esteja tomando nota, no notebook. Tudo me provoca, e nesse tudo especialmente a minúcia, no que percebo aquela índole de antiga filha de costureira, menina crescendo e brincando (e aterrorizando-se, "aleijando seus brinquedos") entre objetos muito pequenos: carreteis, linhas, botões, apliques, gregas?
Também alfinetes (e na almofadinha a luz ao tocá-los na ponta, tornando-os "dedos de deus", escrevi certa vez?). Lâminas. O medo, o olhar (de uma mulher, sempre) tentando esquadrinhar o fundo da agulha, os rumores. Escrever, tecer, tanger o silêncio do texto: mundos afins, aqui comigo.
"Em mim escrever vai-se a rumo de um perigo." Além de "convergência de pássaro entre facas", o que é esse perigo? Algo dele passa pela forma?
Há nesse perigo as consequências da inclinação a uma atividade interiorizante como a de escrever: quem escreve, abre-se a ser escrita pelo próprio texto. É uma abertura, o que implica dispor-se vulnerável, desagasalhada de si.
O curioso é que nudez assim também experimentamos no amor, do que se pode depreender também desejo no gesto da letra, algo de profundamente erótico, de roçável, "a língua é uma pele", considera Barthes. Apropriar-se do dizível nos coloca inevitavelmente em posição de tatear o que fica por ser dito.
É nessa altura do caminho que por vezes entramos em contato com uma legião de bocas amordaçadas (de nós, de tantas e tantos). Dar-lhes voz pode ser doloroso, mas quanta vontade disso. O pássaro alça-se entre lâminas, perfila seu itinerário, migra para o sopro, sopra.
"Até o ponto de adoecê-las: assim olhar as coisas." Esse é um verso de "Annes", poema sobre a Vila Annes. O que é esse lugar? O que é a infância na escrita?
Estranho, Nat: há concatenações de palavras que acontecem antes que a razão as alcance. Quando tentava auscultar o rumor que sobrevinha dessas cenas todas, reunidas no material longo em prosa poética a que intitulei "Vila Annes", sentia uma urgência de dizer que as coisas eram exauridas pelo olhar, como se os olhos as cansassem, como se pudessem adoecê-las.
A casa é ali um espaço tanto cotidiano, temporalizável, quanto deslocado do tempo, "mítica". São semanas de chuva finíssima, e três mulheres cercadas de janelas baças, circulando pelos cômodos, três mulheres às quais nada chega do lado de fora (são inoticiáveis), misturando-se aos móveis e aos tecidos (as peças de roupa surgem penduradas na sala, "aves evisceradas").
Há langor, e há o sinistro daquela ameaça (sedutora) que todos reconhecemos na água. "Uma sociedade só teme uma coisa, o dilúvio", diz Deleuze. E tento aqui desenvolver: no dilúvio, teme a perda dos contornos, das referências.
Newsletter
OLHAR APURADO
Uma curadoria diária com as opiniões dos colunistas do UOL sobre os principais assuntos do noticiário.
Quero receberAs pessoas às vezes perguntam se vivi aquilo, se as janelas eram enormes, se a mãe fazia sopa, se havia uma edícula com as manequins? Bom, não exatamente, aqui e ali sim, mas também pouco importa. Importa o que no campo daquela língua se pode descobrir como tessitura de um pavor delicadíssimo, porque afinal é disso que se trata, lá. O amor quando encruzilha-se com um frêmito de medo, ali onde tudo é ainda nascença (a infância).
O que são os parênteses para você?
Sussurro. Em termos de sinestesia, penso numa mulher que abaixa a voz e que só poderá ser ouvida se o leitor aproximar-se, trazendo-lhe seu rosto, a orelha rente. É um chamado à intimidade.
Unhas, esmaltes, lêndeas, varais: sua poesia diz o corpo feminino em sua miudeza, sua poesia diz a casa, e assim se torna imensa. O fazer poético pode ser político?
Sem dúvida, acho que não há como não ser político. A língua em si é política, no sentido de nos colocar sempre numa relação de alteridade, mesmo quando se trata de um outro apenas possível, cogitável. No caso do meu trabalho, as paisagens desdobram-se sobre a ideia de uma "casa em ruínas" que toda casa abriga (ela e seus ritos de amor, de perda, de encontro), tornando-se então grafia do ínfimo (unhas, poeira, lêndeas, fios de cabelo, varais?).
É a intimidade dos corpos e da segredaria das relações sobretudo que me convocam (penso aqui naquela cena do Lavoura Arcaica em que a mãe de André enfia a mão no cesto sujo). O que poderia ser mais universal, o que diria mais respeito a todos nós do que as vivências que todos intersubjetivamente partilhamos?
Vejo também muitas mulheres escrevendo, fazendo poesia e literatura. Esse é um movimento político. A apropriação da letra é reivindicação de voz, não há como dissociá-las. Penso aqui naquele comentário emblemático de Virginia Woolf, quando se pergunta sobre quanta literatura não resiste incrustada nas paredes das casas, já que se ergueram em torno de mulheres, ocupando-as com seus afazeres, imantando-se nesse sentido do que nelas cresceu como amordaçado desejo de dizer, de narrar-se a si e dar-se registro.
Penso numa casa prenhe de vozes de mulheres (e falam por vezes insurgentes, por vezes roucas ou tímidas). Surgem para contar suas histórias e outras, para fabular e inventar. Para subverter. Reclamam seus corpos também através do corpo do texto, da palavra.
A literatura brasileira (e talvez não só ela) poderia ser essa casa de que fala Virginia (mas que ganha igualmente cena com Luíza Romão em "Também guardamos pedras aqui", que se anuncia com Samantha Abreu em "A pequena mão da menina morta", que surge ainda na escrita de Isabela Penov em "Compêndio para moças de olhos lânguidos", que acompanha Adriane Garcia em "A bandeja de Salomé", que arde no texto de Isadora Krieger em "Tanatografia da mãe"? e poderia continuar citando livros assombrosos que li, todos próprios da nascença de mãos de mulheres).
Para este ano, preparo duas publicações. Uma delas, um livro de poemas reunidos (onde inclino ouvidos ao amor, esse animal adelgaçado que partilha com a escrita a mesma morada no apátrido, no sopro), e a outra, uma plaquete (pela Círculo de Poemas, Fósforo) intitulada "Cova profunda é a boca das mulheres estranhas", que tem justamente a ver com esse núcleo de que falávamos acima.
"As mulheres entram na menopausa com estranhamento. não porque param de sangrar, mas porque essa interrupção vem vacilante no começo, e quando elas menos esperam desce-lhes um vermelho gago, inabordável. sentem-se meninas de novo: o susto é aquele antigo, da menarca, e cruza com o perigo de não terem outra vez nenhum absorvente à mão, 'e agora?'. sentem-se meninas, deliram em corpo e sexo de meninas
(e por isso se assustam quando, no banheiro, no abaixar a cabeça para ver, a cena lhes devolve um ângulo de coxa flácidas)"
Se alguém porventura estivesse lendo seu "Sal" com uma bússola cujo norte fosse o autobiográfico, veria esfacelar-se esse teor na descrição acima, tão precisa, tão bela e perfeita, de uma menopausa que provavelmente não é a sua, pelo menos não ainda. Mas essa pessoa se veria então com outro norte: o da sua inteligência, o da mulher que observa e vê outra mulher, ou a mesma em outro tempo (pois, em "Canção Derruída", "as mulheres são todas iguais"). Como é esse olhar para a mulher?
Gosto de pensar no corpo escrevente como habitat ajanelado, lugar através de onde as coisas (e nas coisas o sexo delas, da língua que falam) escrevem-se. Assim, embora seja pela inclinação de minha letra que vem esse climatério, é ele em si mesmo que tem urgência de dizer-se, de escrever-se. Claro, entra aqui algo de especular: sou mulher também, as mães, tias, primas, vizinhas, as mulheres com quem convivi, elas se presumem em mim, estão contidas em algum ponto do tempo da minha carne, futura ou passada.
No caso desse texto, as imagens têm raiz no estranhamento que eu mesma sentia na adolescência, época de menstruações irregulares e de convívio com o corpo como intruso (escrevi "convício", acabei de deletar e corrigir, olha isso! Os gestos também se intrusam no discurso linear, as mãos sabem mais que a pronúncia. Ou sabem antes).
"As mulheres são todas iguais?" pode ser lido entre a brincadeira e a ameaça, com certo traço de ambiguidade. Escrevi sobre isso esses dias no Instagram, no @marbecker1109. Também dá pra pensá-lo como ironia: de dentro de sua profunda singularidade, emerge a mulher (irrepetível) e se diz igual a todas, se reveste de camaleão —assume-se a mesma que tantas, engole as máximas com que a rotulam, "mulher é sempre igual", "tu és igual à minha ex", e num contragolpe tece uma armadilha com a matéria dessa caixinha em que a colocam. Há muitos modos de ler esse poema, sempre me chegam novos. Tenho o maior interesse em saber.
Em alguns poemas, aparece a anorexia. "Mulher vinda da ausência de outra, da ausência do enredo de outra. mulher vinda de uma não-mulher"; "acho que emagreci para dizer de ti". A poesia é um tatear por explicação, ou o dizer possível na falta dela?
Às vezes uma, às vezes outra. Que formulações lindas, não consigo optar por uma só.
Vem à mente o título do meu último livro, "Canção derruída", que reúne as duas publicações anteriores e saiu em 2023 pela Assírio & Alvim, Portugal. Nele, o tatear por explicação e o dizer possível na falta dela cruzam-se e engendram um sintoma, uma paixão: a música, a música em ruínas, despedaçada.
Há sempre este desejo, o de dar testemunho do que chamei certa vez de de "poética do vestígio, da intimidade" (a desamparada intimidade dos quartos, do corpo, das garoas, do amor, da desolação, dos panos?). Como não se pode trazê-la íntegra (porque a canção se despedaça à medida que a cantamos), e o que resta é uma espécie de contínuo murmúrio (e que tantas vezes se parece a um silêncio vasto, a que nada ousa ferir).
poderia dizer que amo teu nome à boca
poderia falar das vezes em que chega a manhã
e eu o procuro
e faço dele a primeira palavra tocada
mas não. o que digo é que no amor tudo nasce frágil
que há manhãs em que me vejo à beira do teu nome
e não sou capaz de feri-lo
com a voz
(poema de abertura de "Sal", que também está em "Canção derruída").
















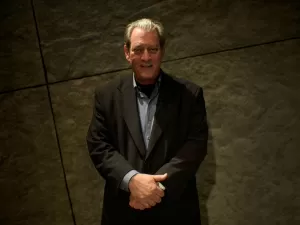



Deixe seu comentário