Texto baseado no relato de acontecimentos, mas contextualizado a partir do conhecimento do jornalista sobre o tema; pode incluir interpretações do jornalista sobre os fatos.
Ataque a Borba Gato revela como usamos tecnologias e os sistemas de memória

Receba os novos posts desta coluna no seu e-mail
As recentes manifestações em torno da estátua do Borba Gato e da repaginação dos nomes de ruas em São Paulo trazem para o centro da discussão como usamos nossas tecnologias e políticas de memória.
Nossas pesquisas, realizadas no escopo Filosofia e Psicanálise da Universidade de São Paulo (USP), tem introduzido o conceito de sofrimento [1] como uma noção simultaneamente clínica e social, capaz de tornar mais legíveis políticas discursivas específicas, orientar intervenções e políticas públicas, bem como reconhecer formas de vida excluídas, minorizadas ou segregadas.
Um caso-modelo da aplicação desse conceito pode ser encontrado na descrição de um sintoma social brasileiro, qual seja, a emergência a partir dos anos 1970 de uma forma de vida marcada pela autoridade invisível do administrador, síndico ou gestor de regras, do muro como estratégia de evitação do conflito e da hipertrofia de regulamentos modos de aplicação da exceção.
No conjunto, tal espaço de trabalho, linguagem e desejo define um novo tipo de sofrimento, marcado pelo esvaziamento identitário de si, pela monstrualização do outro e pela paranoia sistêmica. Sofrimento que é inerente à lógica do condomínio, seja ela efetivada em moradias com esse propósito urbanístico, seja ela encontrável em outros espaços que guardam a mesma estrutura: shopping centers, prisões e muitas, mas não todas, comunidades favelizadas. [2]
No contexto da museologia e das práticas coletivas de memória e testemunho falamos em curadoria. Gosto de pensar na aproximação deste termo com a noção psicanalítica de cura, que tem muito pouco que ver com o sentido médico de desaparição de sintomas, e mais afinidade com a prática filosófica e discursiva de reconhecimento do sofrimento e trabalho de nomeação.
A afinidade entre o conceito psicanalítico de cura e as práticas de cuidado de si, e naturalmente de estética da existência, desenvolvidas por Foucault [3] foram importantes para redefinir a psicanálise não apenas como uma terapia ou como um método clínico de tratamento, mas também como uma experiência social e transformativa do sofrimento. [4]
O desdobramento da noção de cura em psicanálise para a noção de curadoria, no contexto do pensamento museológico, foi testado em uma pequena série de intervenções, nas quais a curadoria foi descrita como um processo de reconhecimento, nomeação e enquadre da relação entre contradição social e forma estética.
Curadores leem e cuidam de conflitos sociais, atuando como sismógrafos do futuro, na medida em que reformulam o presente a partir de passados imprevisíveis. Curadores favorecem certa partilha social dos afetos a eles ligados, inscrevendo-os em discursos públicos, muitas vezes ligados ao Estado, organizando a produção de narrativas que tratam contradições sociais.
Essa diagnóstica social de nossas contradições coloca o cuidado dos curadores em certa posição histórica de mestria: todo enquadre sugere o que se vê e de onde se vê.
Contudo, uma nova curadoria, mais ciente das implicações e dos efeitos dessa prática, está interessada justamente em colher efeitos críticos dessa posição, ou seja, está disposta a integrar em sua política de reconhecimento os efeitos de poder que lhe são imanentes, tornando-se assim não só parte da solução mas modo de colocar o problema.
O conceito de curadoria pode ser mobilizado para examinar a situação de grandes metrópoles urbanas brasileiras, no contexto da grave crise sanitária causada pelo novo coronavírus, em 2020-2021.
Cria-se assim um experimento mental de modo a supor como a experiência de recolhimento domiciliar, induzida pela recomendação de distanciamento social, afetou a percepção do espaço público, notadamente das ruas esvaziadas, de modo a destacar em primeiro plano formas de vida antes invisíveis: moradores de rua, mendigos, loucos errantes, usuários de crack, catadores de papel e material reciclado surgem assim como imagens hipernítidas excessivamente realísticas, como as dos sonhos que nossos pacientes trazem nesse contexto.
Num segundo lugar, localizam-se os impotentes ou indiferentes moradores de periferias que mantêm suas rotinas, entre casas e ruas, como se fosse um feriado prolongado à beira dos jogos de carteado e da vida nos pequenos bares. Sobre eles recai o enquadre da invisibilidade, como vidas sem importância, que podem ser autoeliminadas, como as que se encontram confinadas em nosso sistema prisional.
Em terceiro plano, nessa paisagem emergem as carreatas, os que se proclamam imunes e os que acompanham mimeticamente o discurso e a prática pública do presidente da República e de certos líderes religiosos que depois de negarem a magnitude do problema reúnem-se em grupos heroicos para denunciar a conspiração da qual a epidemia estaria se alimentando.
Em quarto lugar, não se pode esquecer das pessoas vestidas de branco, trabalhadores em hospitais e centros de saúde que são simultaneamente hostilizados por serem potenciais portadores e transmissores do vírus e enaltecidos por arriscarem suas vidas por todos nós, em um momento de crise e incerteza.
As duas primeiras figuras pertencem ao museu dos invisíveis, aos quais este ensaio se dedica, e as duas últimas pertencem ao museu dos hipervisíveis.
O espaço de visibilidade público é homólogo do espaço de reconhecimento simbólico, admitindo a prevalência do escópico, mas advertindo o leitor de que este espaço não funciona sem o contraplano induzido pela voz como vemos no admirável documentário de Giselle Beiguelman e Lucas Bambozzi.
O regime da imagem não é o do inaudível, assim como a visão não é o olhar e o ouvir não é a escuta.
Durante os anos 2015-2019, a população de rua na cidade de São Paulo aumentou 53% [5], chegando a 60% se se incluírem as projeções para 2020. Uma parte substancial é composta por ex-presidiários, cujo número cresceu 328% nos últimos 25 anos, para um crescimento demográfico de apenas 33% [6].
Uma parte expressiva da indução para habitar a rua decorre de problemas mentais. Segundo o censo dos moradores de rua do município de São Paulo em 2015, 30% sofrem com transtornos mentais ou viram suas condições de vida precarizadas por situações de abuso ou violência doméstica continuada, o que é considerado um fator de risco para sofrimento psíquico [7].
Outro elemento significativo para entender a composição e o crescimento dessa população é o desemprego ascendente desde 2016, com aprofundamento da desigualdade na distribuição de renda.[8]
O ano de 2016 marca também um choque interno na cultura da vida em forma de condomínio.
Demandas por maior circulação e acesso a espaços públicos começam a ganhar força. Coletivos estéticos e políticos se multiplicam nas periferias.
O sentimento de que a rua como espaço público é um lugar de diversidade e ocupação ganha força com o movimento pela ocupação das escolas, com o crescimento e desdobramento do Movimento Sem Terra, originariamente de extração rural, para sua versão urbana, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto.
Pautas como ocupação da avenida Paulista, a ampliação de ciclovias e a redução de passagens de ônibus tornam-se cada vez mais visíveis.
Parece lícito supor que tal situação coloca em xeque a lógica de condomínio, tal como a conhecemos, principalmente no que toca ao ideal de separação, controle e recuo do mundo por intermédio do muro.
Duas figuras surgem aqui como organizadoras do espaço descompensado da mistura sem mediação: o vidro e a névoa. [9]
A transparência, primeiramente espelhada, depois como indutora da expansão para olhar, aparece na arquitetura dos museus como que a restituir uma experiência de intimidade perdida pelo avanço do público sobre o privado, patrocinado pela generalização da linguagem digital, mas também do privado sobre o público, requerido pelas formas austericidas das políticas neoliberais, depois de 2008.
A névoa é o recurso inverso. Ela apaga e indetermina o excesso de reconhecimento dos corpos individuais: crianças, pobres e mulheres que devem manter-se abrigados, para além da fronteira pornográfica que caracteriza um dos imperativos contemporâneos do sofrimento.
No futuro museu dos invisíveis não haverá uma data, como julho de 1933, ou uma lei, como a Lei para Prevenção da Hereditariedade Doentia, muito menos o testemunho das 400 mil pessoas esterilizadas, com apoio do saber psiquiátrico e da ciência de sua época. [10]
Não haverá um chanceler como Hitler, que aliás se inspirou nas leis em curso, desde os anos 1920 no estado da Virgínia nos Estados Unidos, para incriminar, pois a nova versão do museu do holocausto terá que apreender outra lógica. Não mais a engenhosa e dispendiosa maquinaria construída para matar, mas a confusa e morosa máquina política construída para deixar morrer.
Por isso se faz necessário inventar museus que captem, enquadrem e posicionem um sujeito capaz de criticar não apenas a biopolítica, representada pelos melhores e piores esforços sanitários, mas também a necropolítica [11], que sobredeterminou a emergência desses novos visíveis errantes em ruas desertas ou super-habitadas.
É possível que a epidemia do novo coronavírus recapitule o efeito genérico das epidemias, que é expor e mostrar melhor o padrão de segregação já em curso em uma comunidade, como se observou em relação à epidemia de gripe espanhola de 1918:
"O medo, como em outros períodos de epidemia, tornou evidentes a discriminação e o isolamento, o excesso e a indiferença, outros sentimentos igualmente imperaram como a solidariedade e, também a culpa e responsabilidade daqueles que tinham mais recursos pelos que pouco ou nada possuíam". [12]
A questão nesse caso será como desenvolver uma linguagem e construir um espaço para a combinação de objetos e imagens que não reproduzam a violência que quer tematizar, mas também que não espetacularizem a miséria de que se trata de perceber.
A pergunta clínica homóloga aqui é a seguinte: como fazer reconhecer o trauma, sem que este se resolva em uma cena de culpa e angústia, da qual esqueceremos, ou pior, a projetaremos em alguém próximo gerando seres hiper-responsáveis, cuja impotência confirmará nossa crença em estrutura de bela alma.
Um bom exemplo dessa inversão que reproduz o que deveria transformar pode ser encontrado no Museu da Independência da Namíbia em Windhoek, doado pelos norte-coreanos.
A peça é um gigante de quatro andares, com um pé-direito exagerado, ao qual só se tem acesso por elevadores. Em seu interior se encontrará uma sequência narrativa com imagens fortíssimas de corpos e massacres de guerra, bem como referências ao massacre promovido pelos alemães entre 1904 e 1908, em sua antiga colônia no sudoeste africano, que funcionou como ensaio prático para os campos de extermínio.
A estética nacional-realista do museu não dialoga com o presente, com a arquitetura das imediações, recriando assim um incidente neocolonizatório que representa, no fundo, a dependência da Namíbia em relação aos modos de fazer e contar sua própria história.
Esta é toda a ardilosidade da fotografia de Sebastião Salgado [13], necessária para retratar a miséria e o sofrimento das pessoas sem espetacularizar nosso olhar.
Há muitos recursos para isso: a evitação da perspectiva frontal, a indeterminação narrativa, a criação de efeitos de dignidade na captação e na montagem da imagem.
Destacam-se aqui as estratégias de captação do tempo, como as observadas na passagem da memória traumática para a memória narrativa, a longo prazo, entre os sobreviventes de campos de concentração: reencenação de cenas, discurso indireto e memória em estrutura coletiva e dialogal. [14]
Antes de tudo é preciso considerar que a repetição do pior faz parte da estrutura da lembrança, tanto na arquitetura quanto na montagem dos objetos de nossa memória, individual e museológica. Dar voz, e não apenas palavra, para a imagem. Mas essa tarefa e esse fracasso, da conciliação entre contradição social e forma estética, têm-se mostrado eficaz quando se trata de populações rurais, em estado de convulsão ou guerra, em situações de exílio e devastação sem que encontremos um equivalente para o caso urbano.
O problema aqui é que a inversão simples do olhar nos leva a uma posição muito marcada no cenário do novo coronavírus, mas que se desdobra para a reconstrução histórica que o Brasil demanda em relação a sua série traumática.
Neste trabalho a reversão do invisível em vidas hipervisíveis, pode ser pretexto para novo reesquecimento. Como sabemos desde a clínica do traumático, muitas vezes uma imagem hipernítida é feita para o destinatário, sem opacidade ou indeterminação, em uma exposição "feita para você", mas com baixo poder transformativo.
A lembrança dolorosa sem novas reconexões, nada muda e, pior, o trauma ganha mais consistência.
Esforços para diversificar o olhar sobre experiências históricas de sofrimento, notadamente de gênero, de raça, de classe ou de etnia, têm pela frente o problema do efeito estético de culpa.
Respostas mais transformativas acontecem quando em vez da culpa, que demanda um tipo de resposta punitiva ou penitencial, obtém-se um sujeito capaz de engajar responsabilidade e implicação diante de sua experiência estética.
Imagens de violência e desigualdade frequentemente reforçam afetos de compaixão culposa e indignidade, sem criar séries transformativas nas quais a forma estética se concilie com a promessa e o reconhecimento generalizante, presente no ato de responsabilidade e ainda mais no engajamento para além do eu, quando se trata de uma verdadeira implicação subjetiva.
A culpa evoca nossa demissão em relação ao desejo, pertencendo assim à economia do gozo. A responsabilidade e a implicação são efeitos que pertencem à gramática do amor e do desejo, respectivamente.
A culpa, portanto, é o afeto complementar para a necropolítica, pois ela nos ajuda a proceder a evasão do mal-estar que a imagem causa em nós, em vez de nos convidar a agir sobre o mundo e sobre as vidas em estados de precariedade.
A simpatia pela qual podemos nos colocar no lugar do desamparo e compartilhá-lo com o outro é importante, mas a empatia por meio da qual nos engajamos em uma série de escuta transformativa com o outro é mais importante.
A recomposição memorial e estética da experiência de privação e abandono, vivida pela janela do confinamento, diante das formas de vidas errantes, surgidas e tornadas visíveis, pelas medidas de distanciamento social, é uma tarefa por cumprir. Ela não está pronta e acabada, simplesmente pela negação do olhar aos que se mostravam invisíveis, em hipervisibilidade.
Aqui é preciso inventar uma curadoria que acolha não apenas o sofrimento em seu estado bruto, mas que o escute como demanda de transformação, em seus próprios termos, "no território", como nos acostumamos a ouvir dos que se dedicam ao trabalho clínico de campo com essas pessoas.
Nesse sentido, seria preciso deixar de pensar a rua como paisagem e passagem, como lugar público onde o interesse público se evadiu. O retorno e a ocupação desse espaço são o que redefine a experiência de sofrimento, não como um instante de agonia, mas como uma narrativa por se contar.
Ela não evolui pela alternação identificatória com aqueles que sofrem como nós, se olharmos bem de perto, mas pelo transitivismo como experiência produtiva de indeterminação.
O transitivismo culposo é aquele que, herdeiro da lógica de condomínio, nos acostumou a desconhecer as formas de vida errantes, que vemos por trás dos vidros dos automóveis. O transitivismo responsável está em curso nesta pandemia, com inúmeras iniciativas de solidariedade.
Entre a transparência e o nevoeiro será preciso lembrar da dimensão perspectiva de nosso olhar.
REFERÊNCIAS
[1] SAFATLE, Vladmir; SILVA JR., Nelson; DUNKER, Christian (orgs.) Patologias do social: arqueologias do sofrimento psíquico. Belo Horizonte: Autêntica, 2018.
[2] DUNKER, Christian Ingo Lenz. Mal-Estar, sofrimento e sintoma: uma psicopatologia do Brasil entre muros. São Paulo: Boitempo, 2015.
[3] FOUCAULT, Michel. Nascimento da biopolítica. São Paulo: Martins Fontes, 2008.
[4] DUNKER, Christian Ingo Lenz. Estrutura e constituição da clínica psicanalítica: uma arqueologia das práticas de cura, psicoterapia e tratamento. São Paulo: Zagodoni, 2020.
[5] NEXO. O perfil da população de rua em São Paulo em 5 pontos. Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/02/03/O-perfil-da-popula%C3%A7%C3%A3o-de-rua-de-S%C3%A3o-Paulo-em-5-pontos>. Acesso em: 3 set. 2020.
[6] FOLHA DE S.PAULO. Número de presos em São Paulo quadruplica sob governos do PSDB. Disponível em: <www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/05/numero-de-presos-em-sao-paulo-quadruplica-sob-governos-do-psdb.shtml>. Acesso em: 3 set. 2020.
[7] BRASIL. Primeira pesquisa censitária nacional sobre crianças e adolescentes em situação de rua. Convênio n. 724549/2009 firmado entre a Secretaria de Direitos Humanos (SDH) e o Instituto de Desenvolvimento Sustentável (IDEST), realização Meta Instituto de Pesquisa de Opinião, 2011.
[8] BRASIL. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Disponível em: <http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/10274/1/bmt_66.pdf>. Acesso em: 3 set. 2020.
[9] WISNIK, Guilherme. Dentro do nevoeiro. São Paulo: Ubu, 2018.
[10] SCULL, Andrew. Madness in Civilization. London: Thames & Hudson, 2015.
[11] MBEMBE, Achille. Crítica da razão negra. São Paulo: N-1, 2018.
[12] BERTUCCI, Liane Maria. "Os paulistanos e as faces do medo durante a gripe espanhola". In: As doenças e os medos sociais. São Paulo: Unifesp, 2012.
[13] SALGADO, Sebastião. Êxodos. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.
[14] COHEN, Aharon Kangisser. Testimony and Time: holocaust survivors remember. Jerusalem: Yad Vashem, 2014.




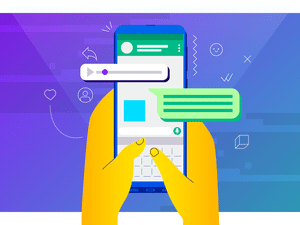





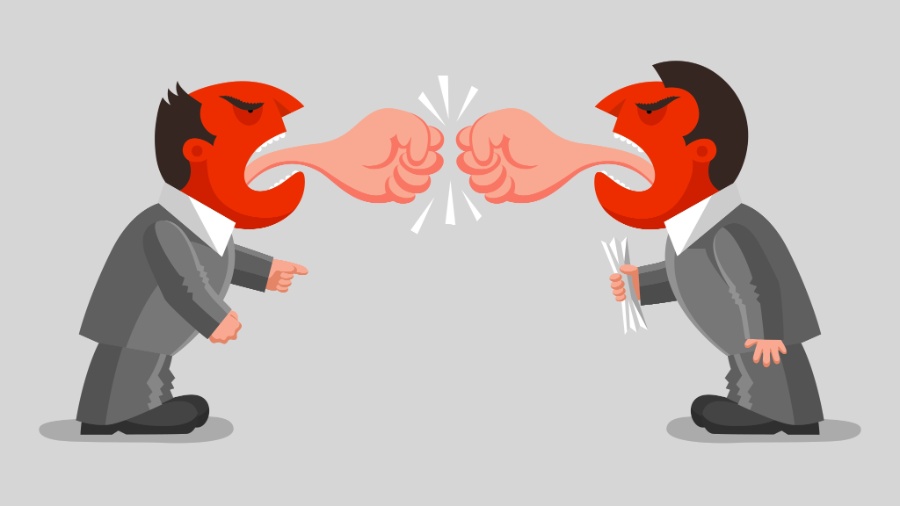








ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.