Texto em que o autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, a partir da interpretação de fatos e dados.
O estigma dos grupos de risco

Receba os novos posts desta coluna no seu e-mail
No início da pandemia de Aids, no começo da década de 1980, epidemiologistas americanos criaram o conceito dos "4Hs", para denominar aqueles que pareciam ter maior probabilidade de contrair o HIV. A sigla se referia ao grupo que incluía hemofílicos, usuários de heroína, homens homossexuais e, pasmem, haitianos.
O intuito era alertar esses grupos quanto aos riscos a que estavam sujeitos, já que o HIV tinha maior prevalência e incidência entre essas pessoas, e assim criar políticas e campanhas direcionadas para evitar a disseminação do vírus.
Embora no início parecesse uma medida acertada, logo percebeu-se que foi uma péssima ideia: longe de servir como diretriz para políticas públicas, a denominação gerou estigma e preconceito contra indivíduos que já estavam vulnerabilizados de muitas formas.
Além disso, provocou uma falsa sensação de segurança em quem não pertencia a esses grupos. Não demorou muito para que o vírus passasse a circular com mais frequência entre outras populações, entre elas as mulheres.
O conceito de grupos de risco baseado em incidência e prevalência gerou políticas públicas equivocadas e preconceito e fez com que outros grupos se sentissem falsamente protegidos.
Ignorando a complexidade e a variedade do comportamento sexual humano, as campanhas de prevenção excluíram as mulheres, assim como os idosos, os heterossexuais, aqueles em relações monogâmicas e estáveis e muitos outros. Em pouco tempo, ficou claro que o vírus não respeitava os critérios usados para o estabelecimento dos grupos de risco.
A estigmatização desses indivíduos não só não os protegeu contra o vírus, mas os deixou ainda mais vulneráveis a ele. Hoje sabemos que discriminação e estigma acentuam desigualdades e dificultam o acesso à saúde.
Na pandemia de covid-19, ocorreu fenômeno parecido. Ao alertarmos para os riscos que os idosos corriam ao contraírem a doença, criou-se a falsa ideia de que os jovens estavam a salvo. Contudo, a realidade foi bem diferente: dados do Sivep-Gripe revelam que cerca de 1/3 das mortes ocorreu entre aqueles com menos de 60 anos.
Não há dúvida de que é importante estabelecer critérios de vulnerabilidade para implementar políticas públicas de saúde. Eles são importantes para organizar campanhas de vacinação, por exemplo, ou para direcionar programas de assistência médica. No entanto, é preciso atenção para não reforçar preconceitos e aumentar vulnerabilidades.
Além disso, não devemos considerar apenas critérios biológicos, como idade e presença de doenças pré-existentes, mas levar em conta os determinantes sociais, como fatores socioeconômicos, raciais, comportamentais, entre outros que podem aumentar a vulnerabilidade a doenças e dificultar o acesso a serviços de saúde.
Populações vulnerabilizadas costumam ser negligenciadas, e recebem menos atenção de formuladores de políticas. Em geral, estão, também, excluídas dos padrões mais altos de saúde disponíveis.
Em vez de enfatizar indivíduos e grupos, faz mais sentido ressaltar quais comportamentos e situações trazem mais ou menos risco, para que as pessoas possam fazer sua gestão de risco baseadas em informações e evidências qualificadas. Quando há fatores biológicos que interferem no desfecho da doença, isso deve ser comunicado com cuidado para não reforçar estigmas.
Não é tarefa fácil, mas quem pensa políticas públicas em saúde tem que ter em mente que reforçar preconceitos deixa os indivíduos e grupos estigmatizados sob risco ainda maior de contrair doenças e de sofrer complicações oriundas delas, além de afastá-los dos serviços de saúde.







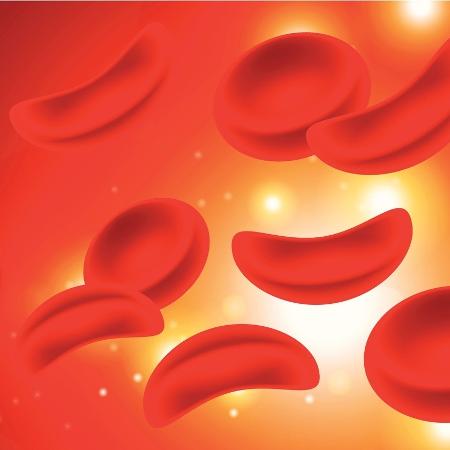








ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.