Texto que relata acontecimentos, baseado em fatos e dados observados ou verificados diretamente pelo jornalista ou obtidos pelo acesso a fontes jornalísticas reconhecidas e confiáveis.
Terapia celular: novas saídas contra o câncer, infecções e outras doenças

Receba os novos posts desta coluna no seu e-mail
Imagine pegar células de cordão umbilical e fazer com que elas se especializem em atacar certos vírus para serem injetadas, na sequência, em indivíduos que seriam presas fáceis para eles, como é o caso de alguns pacientes oncológicos.
Ou, ainda, pense como seria reprogramar células de defesa, os linfócitos T, para que elas reconheçam um câncer e possam disparar contra ele sem titubear.
Existe ainda a possibilidade de cultivar as células extraídas de alguém com uma doença hereditária, editar seus genes e, daí, devolvê-las ao dono após essa espécie de conserto. A ideia é que se reproduzam em seu organismo nessa nova versão corrigida e saudável.
Isso também faz parte do que está sendo pesquisado no vasto campo da terapia celular — que, como o nome indica, usa células, só que modificadas ou restauradas, para tratar um problema de saúde.
Nada disso, porém, pode ser feito em qualquer canto. Para desenvolver novos tratamentos como esses ou até mesmo preparar células que já estão sendo aplicadas em pacientes transplantados de medula, por exemplo, é preciso contar com um ambiente pra lá especial: a sala limpa.
Sim, no jargão da ciência, o laboratório de segurança onde se prepara o material da terapia celular atende por esse nome quase singelo.
"O conceito não é nada complicado e quem trabalha com medicamentos já o conhece de longa data", diz o hematologista Nelson Hamerschlak. "Ora, quando é produzido um remédio injetável, tudo precisa ser absolutamente estéril para você não correr o risco de provocar uma infecção em quem tomar aquela injeção. Não deixa de ser a mesma coisa aqui", compara.
A indústria farmacêutica, portanto, conhece muito bem as tais salas limpas. E foi uma delas que me fascinou noutro dia, quando visitei o prédio recém-inaugurado do Centro de Ensino e Pesquisa Albert Einstein. Aliás, conversei com o doutor Hamerschlak porque passarinhos me contaram que ele é quem lidera o maior número de pesquisas nas três salas limpas do lugar.
Desenhado pelo arquiteto israelense Moshe Safdie — sempre lembrado pelo projeto do Museu do Holocausto, em Jerusalém —, o domo translúcido do novo edifício chama a atenção de quem transita pelo bairro do Morumbi, em São Paulo. Já quem entra nele encontra um vão central com jardins repletos de árvores nativas brasileiras. A luminosidade natural se torna suave ao alcançar as curvas claras dos corredores.
Tudo ali faz o olhar passear de um lado — onde se concentram os espaços dedicados aos cursos de medicina, enfermagem e pós-graduação — a outro, que deverá abrigar cientistas. E foi justamente neste outro lado que os meus olhos se arregalaram, enquanto pousavam em paredes duplas e grossas de vidro: "É a primeira sala limpa que é assim, transparente. Todo mundo poderá ver o que está acontecendo dentro dela", ouvi, então.
Mas, na verdade, muito que do caracteriza uma sala limpa continua invisível — o fluxo do ar que passa a 0,45 metro por segundo, nem mais, nem menos; a diferença entre a pressão interna e a externa que não deixa nada invadir, nem escapar dali (ao menos, é o que se espera!); o controle de partículas e até mesmo de vibração e ruídos. Sem contar o ritual para trabalhar naquela área.
Onde as células são preparadas
A bióloga Mariana Morato, no Einstein desde 2019, trouxe em sua bagagem da Universidade de São Paulo experiência suficiente como pesquisadora em salas limpas para cuidar dos protocolos dirigidos a quem se aventurar nesse espaço do novo centro.
Dentro de uma sala limpa, só poderão ficar dois ou, no máximo, três cientistas de uma vez. E nesse dia, claro, ninguém deverá ir para o trabalho com gripe, mal-estar, coceira na pele, nem irritação nos olhos. "Os usuários, afinal, são a principal fonte de contaminação", ensina Mariana.
Às cientistas, uma ordem: zero maquiagem. Pergunto se é por causa do risco de contaminação também. "Nem tanto. É mais porque a maquiagem — o rímel, acima de tudo — solta inúmeras partículas no ar", responde.
Há um controle disso também. Os pesquisadores chamam de partículas não viáveis aquelas que são inertes, ou seja, que não podem se reproduzir feito um micróbio. Entram no rol o que se desprende de um rosto pintado, fios de cabelo, fiapos de tecido.
Contadores de partículas controlam a atmosfera e, para tudo, há um número máximo. Não podem se encontrar suspensas em um único metro cúbico de ar mais do que 2.930 partículas não viáveis de até 5 micra, ou milionésimos de milímetro. Se forem ainda mais microscópicas, de 0,5 micra, aí são aceitas 352 mil.
"Quando o equipamento acusa um aumento, a ordem é para as pessoas ficarem quietas", conta a pesquisadora. A lógica é a mesma quando se evitam vibrações ou ruídos. "A onda sonora agita o ar", justifica Mariana. Logo, qualquer conversa pode espalhar mais partículas. No dia a dia do laboratório, um barulho mais forte é capaz até mesmo de alterar aquela velocidade exigida do fluxo de ar.
Existe também, é claro, o controle das partículas viáveis, ou vivinhas. "Deixamos placas de sedimentação em lugares estratégicos, como nas portas de geladeiras, que acabam sendo mais usadas", descreve a bióloga. Essas placas entregam a presença de fungos, bactérias e outros intrusos.
"Quando isso acontece, se estou manipulando uma célula mais fácil de encontrar, jogo tudo o que estava fazendo imediatamente no lixo", explica a cientista. "No entanto, se é a célula de uma doença rara, a sala limpa ficará fechada, só comigo, até eu terminar. No final, faço testes para ver se nada ficou contaminado. A regra é uma só: se contaminou, vai ser descartado."
Para entrar, todo mundo atravessa uma antecâmara onde a diferença de pressão faz com que o ar circule da sala limpa para fora e nunca ao contrário, o que deixaria o ar externo passar para dentro.
Na antecâmara, além fazerem a assepsia, os pesquisadores se paramentam, com touca, óculos, um macacão que cobre todo o corpo. Pulam um banco na divisória. E, já prestes a pisar na sala, vestem outra camada de roupa. O tecido é eletrostático — leia, impede que partículas grudem — e não é poroso para que não haja fluxo de ar de dentro para fora. Todo cuidado é pouco.
O que vem por aí
As pesquisas na única sala limpa envidraçada de que se tem notícia ainda estão para começar. Por exemplo, os cientistas aguardam equipamentos para conduzir os estudos com pacientes portadores anemia falciforme, doença hereditária em que os glóbulos vermelhos do sangue, em vez de arredondados como de costume, assumem o formato de uma foice.
Então, é como se eles enganchassem uns nos outros enquanto circulam. Daí, enroscados, não levam oxigênio direito. Mal abastecidos, os tecidos do corpo reagem berrando de dor. Sem contar que esses glóbulos vermelhos tendem a viver menos, surgindo a anemia.
"A ideia é fazer um transplante autólogo, isto é, do próprio indivíduo", conta Mariana. "As células-tronco extraídas da medula seriam então editadas para produzirem glóbulos sanguíneos normais e, depois, seriam reintroduzidas no paciente."
Outra pesquisa é voltada para a epidermólise bolhosa, doença que provoca feridas na pele. Isso porque há uma mutação genética interferindo em uma das formas do colágeno — justamente a que é responsável pela aderência entre duas camadas cutâneas, a derme e a epiderme. Descolada, esta última se solta completamente. Dá para entender a carne viva.
Para cobri-la, os pesquisadores irão pegar amostras de tecido de pacientes com a doença, separar suas células como se fossem tijolos diferentes, corrigir o defeito genético do colágeno e, finalmente, remontar tudo, criando uma pele artificial.
Nelson Hamerschlak também me dá exemplos de projetos na sua área. Um deles é com o citomegalovírus. "De 80% a 90% dos brasileiros já foram infectados por ele", informa. "Muitos foram assintomáticos. Em outros, a doença se confundiu com uma gripe, causando dor de garganta"
O problema é que, em pessoas imunossuprimidas, como quem fez um transplante de medula para tratar a leucemia, o citomegalovírus é capaz de fazer um estrago danado. "Aí, ele provoca infecções graves, atacando os olhos e o intestino, por exemplo", explica o médico.
Nesses pacientes, os remédios que poderiam ser usados quando a carga desse vírus está alta costumam ser tóxicos, comprometendo bastante o sucesso do transplante, inclusive. "E essas pessoas não têm, digamos, um linfócito T atuante", diz ele, referindo-se à célula imunológica que daria conta da situação. O objetivo, então, é fazer com que esses linfócitos não fiquem mais com os braços cruzados,. Ativados pelos cientistas na sala limpa e devolvidos ao paciente, eles manteriam o citomegalovírus sob rédeas curtas.
Inevitável indagar o que um cientista renomado como ele, doutor Nelson Hamerschlak, está achando de estudos assim agora serem feitos em um espaço tão bonito, diferente, à vista de quem estiver no corredor. "O que faz diferença nunca é o lugar, mas os pesquisadores. E mais bonita do que essa sala limpa é a própria ciência", opina, sem hesitar. Isso sempre viu quem quis.










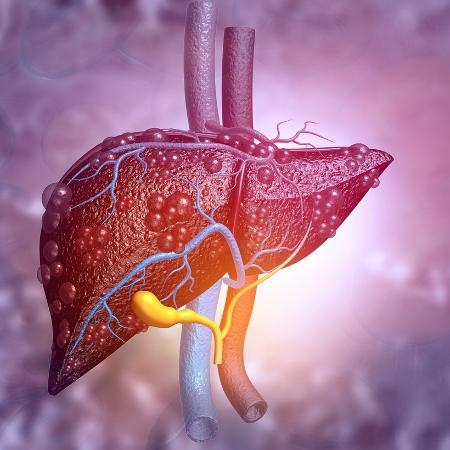





ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.