Texto em que o autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, a partir da interpretação de fatos e dados.
Argentina traz inspiração para a re-redemocratização que vivemos no Brasil

Receba os novos posts desta coluna no seu e-mail
Entrei no curso de Psicologia da USP em 1985, vindo de uma escola de elite em São Paulo que recentemente foi palco de debate em função da fundação de um coletivo nazista, que levou à expulsão de oito alunos.
Na época, o contraste entre minha formação (bastante homogênea, orientada para resultados e com persistentes zonas de discriminação) e o novo espaço da redemocratização uspiano (repleto de pessoas vindas do interior do estado, com outras referências culturais e mais diversidade de raça) foi, provavelmente, a experiência cultural mais decisiva de minha formação.
Mas isso só ocorreu em função de dois fatores, que me parece importante discutir, neste momento de re-redemocratização brasileira.
Em 1985, apesar de minhas crônicas dificuldades financeiras, a universidade oferecia uma série de pequenos bicos e de pequenas trocas econômicas que permitiam que os estudantes passassem um tempo extenso juntos na própria universidade.
Se você não tinha aula, ia jogar xadrez, participar de algum coletivo de teatro ou poesia, ir ver uma reunião do Centro Acadêmico ou da Atlética da Psico, e até mesmo ser arrastado para alguma conferência.
Foi assim que tive contato com Paulo Freire, Fernando Henrique Cardoso ou Jurgen Habermas, sem ter a mais estúpida noção do que aqueles nomes representavam no correr dos acontecimentos.
Digo isso pensando na condição de meus alunos de hoje que enfrentam dificuldades de todo tipo para permanecer no ambiente da universidade.
Não me refiro à alimentação, moradia, creches e outros serviços básicos precarizados em nome da "atividade fim" limitada ao ensino-aprendizagem.
Pensar junto é questão de conviver. Envolve certo ócio, mas principalmente uma vida comum, onde bons encontros podem acontecer.
A mentalidade tarefeira e ocupacional na qual tudo o que se produz no universo acadêmico tem que ser contabilizado na forma de crédito, pontos Lattes ou certificados feitos para acumulação e comparação ataca diretamente esta forma de vida onde aprendi a fazer ciência e a pensar.
É certo que se você nada publica, não se envolve com os debate acadêmicos e nunca está naquele congresso, você é simplesmente relapso. Está achando que a carreira científica é semelhante à carreira em corporações.
Esta ideia curricularista foi amplamente abandonada nos processos seletivos das melhores e mais qualificadas universidades do mundo.
Cada vez se cobiça mais aqueles jovens capazes de implicação social, trabalho em grupo, empatia e raciocínio ético.
Ademais, quanto mais se cresce numa empresa ou em um negócio, mais importante se torna a sua habilidade "política".
Mas onde se aprenderia esta habilidade tão importante?
Não se engane: habilidades relacionais, socioemocionais ou genericamente políticas não substituem algumas conquistas quantitativas e méritos na corrida a céu a aberto pela acumulação de resultados.
O que estou tentando dizer é que não se produz um pesquisador se ele não aprender a sentir-se em casa no seu laboratório.
Se a universidade é lugar, é um lugar de passagem, isso quer dizer, a longo prazo, que você só está de passagem.
A permanência tornou-se ainda mais difícil de produzir no quadro das ações afirmativas, que foram capazes, até aqui, de colocar muitos alunos que antes seriam excluídos, mas que ainda claudica quando perguntamos se estes alunos realmente sentem que a universidade é seu lugar, sua casa, sua comunidade.
Isso acontece tanto por falta de investimento em permanência universitária, para os que precisam, quanto porque os que não precisam desaprenderam a "viver no campus".
Em setembro de 1985 organizamos uma viagem de intercâmbio científico a Buenos Aires. Era a primeira vez que saía do Brasil e justamente encontrávamos Buenos Aires em chamas.
Mas para fazer ciência não basta tem um lar epistêmico, é preciso viajar, sair de casa uma segunda vez. Nesta segunda torção criam experiências comuns com outros "estrangeiros". Quando voltamos reaprendemos a enxergar nosso país. Seus problemas e soluções emergem a partir de outro olhar.
Em 1985, caminhei ao lado de Hebe de Bonafini, líder das Mães da Praça de Maio, com seus lenços na cabeça, com os nomes dos filhos e filhas, netos e netas, torturados, adotados forçadamente por outras famílias, jogados de aviões, violados, humilhados, ameaçados e perseguidos de todas as formas durante os anos de ditadura militar.
Hebe veio a falecer depois de mais de cinquenta anos procurando seus dois filhos desaparecidos.
Lembro-me de seu olhar, algo atônito e orgulhoso, diante de um bando de estudantes de psicologia que queria conhecê-la e se solidarizar com sua luta.
Trinta anos depois daquele dia voltei a Buenos Aires com minha esposa e filhos e novamente caminhamos com Hebe em torno da Plaza de Mayo, tendo ao fundo a Casa Rosada, onde se localiza a presidência argentina.
Em 1985, e depois novamente em 1987, encontros como este não substituíram as salas de aula lotadas na Universidade de Buenos Aires, a descoberta de que naquele país o acesso às universidades era livre e cada curso tinha milhares de alunos. A descoberta de livrarias com títulos e traduções que jamais teríamos sonhado no Brasil.
As novas experiências antipsiquiátricas do Hospital la Borda, as inovações de Pichon-Rivière na Psicologia Social, as leituras argentinas de Piaget, Freud e Lacan, bem como a descoberta de que durante a ditadura o Grupo Plataforma havia se insurgido contra a pirâmide elitista da psicanálise, denunciando seus abusos e recriando o problema da transmissão das comunidades de psicanalistas.
Esta jornada voltou integralmente a minha lembrança quando assisti recentemente a um filme obrigatório para nosso momento brasileiro: "Argentina, 1985", com o imortal Ricardo Darín e candidato a uma vaga no Oscar.
A película retrata o julgamento dos ex-presidentes e líderes militares —da marinha, exército e aeronáutica— que foram acusados de conivência com as torturas e desaparecimentos entre 1973 e 1983. Estima-se que 30 mil pessoas morreram durante este período de terror de Estado, em nome da luta contra o comunismo esquerdista.
O filme retrata o drama de Strassera e Ocampo, dois promotores encarregados da acusação. Em meio a ameaças e dissensões com suas famílias e falta de recursos humanos, eles reúnem um pequeno grupo de jovens advogados para colher mais de 700 depoimentos de casos, que se tornaram assim representativos dos milhares que não puderam ser alcançados.
O filme é uma aula de como os personagens que cumprem seu papel na história são sempre meio divididos, incertos de seus propósitos. Neles, a coragem não é uma convicção cega, mas um procedimento humilde, tateante e, no entanto, incapaz de ser realmente intimidado.
A ideia de que pessoas de bem, que vão a igreja, como teria sido o caso do general Videla e a mãe de Ocampo (que, aliás, vinha de uma família secular de militares argentinos) não pode cometer mal algum, vai entrando lentamente em colapso à medida que os depoimentos reais das vítimas vêm à luz.
O fato de que os líderes não sabem nem controlam perfeitamente seus liderados cai por terra quando se percebe que um discurso pode sancionar a violência simplesmente por manter o silêncio, por meio de mensagens indiretas, pelo emprego do "serviço sujo" e das palavras inconsequentes, indiferentes ou isentas.
O filme é uma peça de formação política, um exemplo de como podemos aprender com erros e de como podemos esperar que julgamentos históricos também estejam por vir aqui no Brasil.
Nossa experiência recente —nas universidades, na ciência, na cultura e nas artes— convida a perguntar: em nome do quê e por quê poderemos dizer "nunca mais".






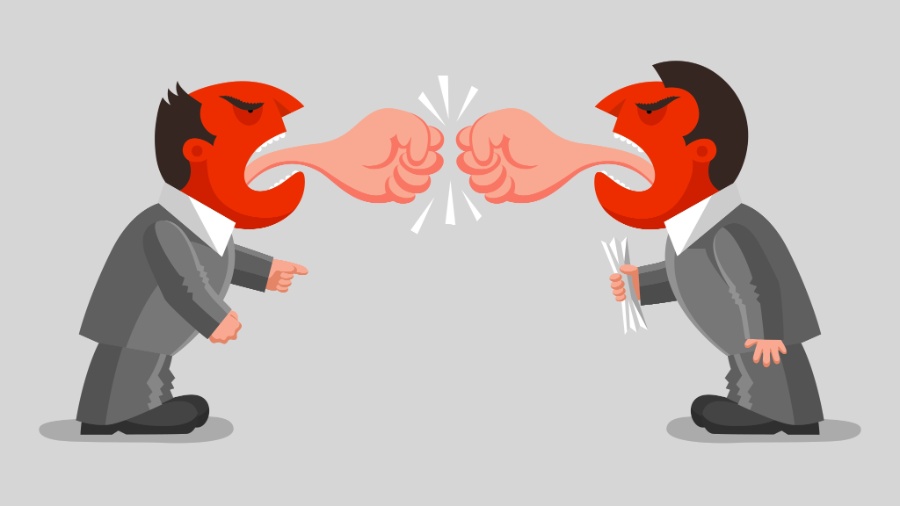










ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.