Texto em que o autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, a partir da interpretação de fatos e dados.
Joga-se como se vive

Receba os novos posts desta coluna no seu e-mail
Faltam três rodadas para o encerramento de um Brasileirão triste, melancólico, pandêmico. Ainda assim, todos os domingos e todas as quartas, a gente senta em frente de um monitor e, outra vez, se permite sonhar. Com o título, com a Libertadores, com a Copa do Brasil, com a permanência na divisão principal, com uma vitória, com um lateral magistralmente batido, com um chute no ângulo, com a triangulação perfeita, com um escanteio no segundo pau.
Só que torcer é saber que uma boa dose de tristeza e de frustração vai ter que ser absorvida. Todo torcedor é um bom sofredor. Temos que ser. Perder é horroroso e, por vezes, humilhante; e essa tem sido uma constante. Temos perdido dentro e fora de campo. Em campo, perdido gols absurdos, jogos improváveis, trocas de passes fáceis. Fora dele, pessoas que amamos e admiramos, saúde mental, contato físico, calor humano.
Toda vez que a imagem de um estádio vazio aparece na TV uma parte daquilo que sou se banha em um pouco de sombra. Sensação que se agrava quando o DJ do estádio, fazendo apenas o que se espera dele, sobe o som artificial da torcida gritando. Nem a poesia que existe no barulho de um chute bem dado na bola, ou na espalmada milagrosa do goleiro (aquele som seco, direto, penetrante) podemos escutar quando o DJ do estádio se anima com um ataque.
São tempos estranhos, sombrios, vazios. Não podemos e não devemos nos aglomerar, é o que a vida pede hoje, e com isso o jogo se transforma cada vez mais em um espetáculo exclusivamente televisivo. Então, derrotados, ligamos a TV na esperança de nos emocionar. Mesmo que não seja com o nosso time. E, 90 minutos depois, a gente desliga sem que grandes acontecimentos tenham nos arrebatado (salvo as bem vindas exceções).
Hoje em dia me contento com uma triangulação rápida e certeira, mesmo que seja na intermediária e mesmo que seja indo para trás - e, de tão sedenta por alguma emoção nobre, sou até capaz de me comover silenciosamente quando o adversário alcança esse mérito.
A expressão "joga-se como se vive" é atribuída ao espanhol Xabier Azkargorta, técnico da Bolívia na Copa de 1994. Isso significaria dizer que cultura determina a forma como jogamos. Valeria para nações e para clubes. Se Azkargorta estiver certo então não estamos vivendo lá muito bem. Salvo raríssimas exceções, temos sido submetidos e submetidas a jogos monótonos e travados. O que, então, segue nos prendendo a esse esporte?
Somente um interesse apaixonado pode levar a pessoa a existir plenamente, escreveu o filósofo dinamarquês Soren Kierkegaard. E, em busca dessa sensação de estarmos vivos, não abrimos mão de paixão pelo futebol. Eu quero me sentir enfeitiçada, ter um alívio do peso do noticiário, deixar medos reais de lado e, por 90 minutos, sofrer outras dores, outros traumas, outro tipo de derrota que não seja a derrota para um sistema político perverso, para uma pandemia negligenciada, para relações de trabalho precárias e opressivas.
Busco no futebol uma permitida contradição básica para o fato de estar viva. Não sou fã do campeonato de pontos corridos, nunca fui. Meu negócio é mata-mata, é a corda bamba da vida dentro do campo, é a fronteira entre o mais profundo gozo ou o mais dilacerante fracasso. Para quem pensa como eu ainda existe a chance de Flamengo e Internacional se encontrarem no domingo, dia 21 de fevereiro durante a penúltima rodada, em jogo que, a depender do que aconteça no fim de semana dos dias 13 e 14, poderá conter os requintes de emoção de uma decisão. Que maravilhoso seria isso.
Como torcedora, estarei outra vez em frente ao monitor torcendo, secando, vibrando. Por quem? Como minha mulher é flamenguista, é provável que, em nome do amor, eu até me permita a blasfêmia de torcer para o Flamengo (me perdoa, pai, de onde quer que você esteja vendo o time que tanto te encantou em vida, o Fluminense). Mas vou mesmo é torcer por uma jogada inesperada, pelo gol no último minuto, por sentir meu corpo arrepiar e meu coração palpitar, por uma virada como só o futebol - e a vida — sabem dar.
Albert Camus estava certo: o futebol ensina muito sobre a vida. Ensina a ganhar, ensina a virar, mas, mais importante, ensina a perder. Porque viver passa por perder. Quando a vida pisa forte eu recorro à poesia em busca de conforto. Por isso, antes de encerrar, deixo aqui um de meus poemas prediletos nas palavras enfeitiçadas de Elizabeth Bishop em "A arte de perder" com tradução de Paulo Henriques Britto:
"A arte de perder não é nenhum mistério;
Tantas coisas contêm em si o acidente
De perdê-las, que perder não é nada sério.
Perca um pouquinho a cada dia.
Aceite, austero, a chave
Perdida, a hora gasta bestamente.
A arte de perder não é nenhum mistério.
Depois perca mais rápido, com mais critério:
Lugares, nomes, a escala subsequente da viagem não feita.
Nada disso é sério.
Perdi o relógio de mamãe.
Ah! E nem quero lembrar a perda de três casas excelentes.
A arte de perder não é nenhum mistério.
Perdi duas cidades lindas.
E um império que era meu, dois rios, e mais um continente.
Tenho saudade deles.
Mas não é nada sério.
Mesmo perder você (a voz, o riso etéreo que eu amo) não muda nada. Pois é evidente que a arte de perder não chega a ser mistério por muito que pareça (escreve!) muito sério".




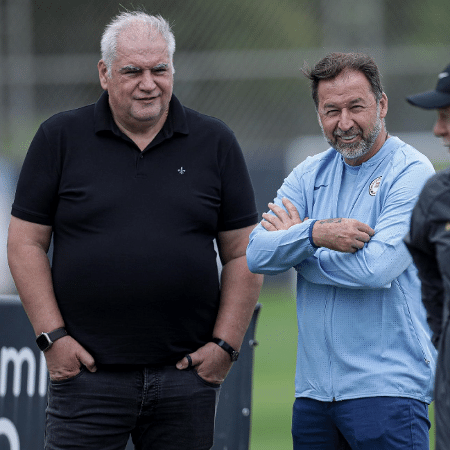











ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.