Sessenta anos do golpe: quando termina a escrita de um trauma?

"Quando termina a escrita de um trauma?", pergunta-se Maria Rita Kehl, interroga-se seguidas vezes variando as palavras. "Quantos anos, ou décadas, são necessários para que um fato traumático se incorpore à memória nacional sem machucar nem se banalizar?" Sim, estamos falando sobre a ditadura militar, cujo golpe inaugural completa agora sessenta anos. Estamos falando de algo que se conhece demais, algo que já ocupou infinidade de livros, artigos e jornais, algo que tantos nem mais querem mencionar. E, no entanto, o imperativo da repetição é o que se destaca, a necessidade de indagar de novo, de afirmar de novo, de escrever mais e mais sobre aquilo que se deseja silenciar.
Já muitos falaram da grande amnésia nacional. Dessa incapacidade brasileira de lidar com sua própria história, de contemplar com lucidez e honestidade as agruras de seu passado. Extermínio, exploração, escravidão, terrorismo de Estado, tudo vai se tornando assunto proibido pelas mesas do país, como se evocar tais termos fosse incorrer em algum despudor, uma impolidez, uma indelicadeza que poderia melindrar o humor dos comensais. Ora, que mau gosto falar dessas desgraças quando seria perfeitamente possível ignorar, abstrair, relevar. Tão bem nos entenderíamos se não guardássemos tantos rancores, exclamam os apaziguadores inquietos, eles mesmos inconformados.
A pergunta de Maria Rita Kehl é justa e necessária, entra no cerne desse impasse que habita tantas mesas e tantas casas, mas algo ainda lhe falta. Para que se possa terminar de escrever um trauma, para que enfim sejam expressas as palavras que porventura venham a encerrá-lo, é fundamental que a violência não se perpetue até o presente, que não se repita seguidas vezes diante dos nossos olhos. Para superar um trauma, a premissa principal talvez seja que ele pertença ao passado, que já não provoque novas vítimas e novas dores. Não é o que temos no Brasil, um país que jamais rompeu com sua ditadura, que não julgou nem puniu seus militares. Aqui, como temos visto em renovadas formas, vivemos ainda sob um Estado parcialmente sequestrado por forças atrozes, um Estado que repete seu passado e censura e tortura e mata.
Em anos recentes, pudemos testemunhar o descalabro que se produz quando figuras retrógradas e autoritárias voltam a ocupar o poder. Escapamos por um triz, é o que sentimos ao ler o texto que decretaria um novo golpe, documento sinistro que oferece um vislumbre do que teria sido o nosso desastre. Escapamos por um triz, é o que sentimos ao saber que Jair Bolsonaro de fato convocou os comandantes das Forças Armadas e propôs uma ação conjunta em reação à sua iminente derrota eleitoral — e que um deles aceitou de partida cooperar. Tivesse obtido três respostas positivas, em vez de uma, e talvez estivéssemos agora assombrados por um terror similar ao de seis décadas atrás.
Escapamos por um triz, sim, mas alguns não escaparam. As últimas revelações sobre o assassinato de Marielle Franco mostram como ainda vivemos, em grande medida, reverberações da mesma violência estatal. Nada poderia ser mais claro: o país tinha absoluta razão para se indignar como se indignou, para se comover como se comoveu ante um assassinato brutal. O crime não tinha nada de mundano, nada de banal. Com a provável participação de um deputado federal, de um conselheiro do tribunal de contas, de um chefe da Polícia Civil, é o mais emblemático caso recente de crime de Estado.
Quanto tempo leva para superar um trauma? Bernardo Kucinski precisou de mais de quarenta anos para elaborar o crime de Estado que vitimou sua família, o sequestro e a morte de sua irmã, Ana Kucinski. Passadas essas quatro décadas, escreveu em "K.: Relato de Uma Busca" um dos relatos mais pungentes sobre essa dor que nunca se encerra, que se perpetua na família como uma sensível ausência. Um dos relatos mais vívidos também do desatino que tomou conta de tudo naquela época, quando o país se converteu num "sumidouro de pessoas", de corpos confiscados por forças oficiais que desapareciam sem deixar nenhum vestígio.
Em K. se pode ler que nada disso chegou a se desfazer por completo, que nada está de fato terminado. O mais assustador nesse romance não é o que revela sobre o passado, e sim sobre o presente. Que o sistema repressivo ainda está articulado, ainda persegue as vítimas antigas e seus familiares, com falsas pistas e ligações ominosas, numa espécie de tortura psicológica. E que ainda produz novas vítimas, ano a ano, numa renovação constante de sua brutalidade. Sessenta anos é tempo demais para rememorar um trauma? Creio que não. Mas é certamente tempo demais para deixar que a violência oficial permaneça instaurada sobre nós, intocada por qualquer justiça e qualquer memória.









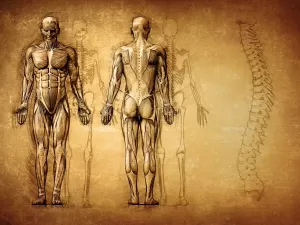










Deixe seu comentário