Viagem ao fervoroso futuro: relato de uns dias comuns no antropoceno

Para chegar até ali, para chegar aos dias que se fariam expressão do nosso futuro trágico, era preciso atravessar os intermináveis campos de soja. Aonde quer que eu olhasse nenhuma árvore, nenhuma alma, ou talvez apenas o espectro dos trabalhadores que lavraram aquelas terras num passado já remoto.
Agora eu só via o vasto campo amarelado, sob o sol candente, o infinito tracejado nas linhas de arbustos baixos. O carro começou a trepidar, e o motorista parou temendo um pneu furado. Era apenas o vento a varar os campos com pressa insólita, um bafo tórrido que em nada nos aliviava.
À noite, depois da conversa sobre literatura e suas delicadezas contumazes, o assunto na mesa do bar era o tufão de uns dias atrás. Tufão não, alguém ressalvou, aquilo não passava de um vendaval.
Foi um tornado de nível dois, disse um outro mais informado, ao que o segundo retorquiu que um tornado teria deixado estragos mais notáveis. Você queria o quê, um carro lançado pelo vento sobre a copa das árvores?, provocou uma jovem em tom risonho.
Pois foi o que tivemos, ela seguiu, e mostrou no celular a foto do carro lançado pelo vento sobre a copa das árvores, ao fundo a fachada de sua casa.
O dia seguinte amanheceu calmo, ao menos no país de cá. Do outro lado do mundo era outro o fogo que calcinava a terra, era o terror e o horror e a guerra e tudo o que ainda não pude assimilar, o que ainda não cabe nas palavras.
No país de cá, naquela específica tarde, o debate era sobre a pandemia e suas dores obstinadas, abafadas pela pressa dos dias, era o trauma que tão bem cuidamos de recalcar.
Trovões davam ao papo um certo tom apocalíptico, pareciam confirmar a gravidade do que falávamos. Depois veio a chuva poderosa, e nós apenas olhamos para cima e continuamos a entoar palavras porque não fazia sentido que uma tempestade nos calasse.
A chuva engrossou e se fez pesada, e logo se fez sólida, o granizo a se infiltrar pelas frestas da tenda que nos abrigava. O vento era de novo atordoante e parecia querer erguer do chão todo o cenário, de modo que organizadores e livreiros e mediadores e leitores e até o secretário da cultura abandonaram suas funções anteriores e se empenharam em firmar a tenda no chão, de braços abertos e mãos espalmadas.
O granizo era tanto que chegou a abrir um rombo no tecido da tenda, deixando boa parte das cadeiras encharcadas. Por sorte a organização contava com um auditório próximo, e assim pudemos seguir com as discussões literárias.
No último dia, no dia em que partiríamos, o céu era uma cortina fosca e grossa que obstruía nosso olhar. Hoje nenhum avião conseguiu pousar no aeroporto da cidade, alguém alertou, e a situação é a mesma nas cidades circundantes. É provável que não possamos ir embora, outro concluiu, e continuamos a mastigar o pão matinal porque nossa aflição não valeria nada nessa hora.
Pelas janelas amplas do hotel, assistíamos à chuva incessante, à chuva estrondosa que, agora tão comum, sequer chegaria às notícias. Raros se atreviam a sair naquele domingo sombrio, e as ruas se viam tão desertas quanto os luzidios campos de soja.
Foi ali que entendi, diante do espetáculo tão vistoso quanto monótono, foi ali que entendi que jamais iríamos embora. Que aquela não era uma viagem casual ao oeste do Paraná, que era uma viagem sem retorno ao tempo que nos coube habitar, o tempo em que o tempo foi transformado pelos homens.
Era a mais longa visita ao antropoceno, sem data para acabar. Desse futuro em que já nos encontramos não será fácil escapar, não há saída à vista, o horizonte é uma cortina fosca e grossa.
Pesado é o céu que nos sobra, pesado como este céu que vela a noite em que escrevo estas palavras, uma semana depois, em outra cidade, em outro estado, o céu que acaba de desabar sobre as árvores e subsumir a todos numa escuridão calada.









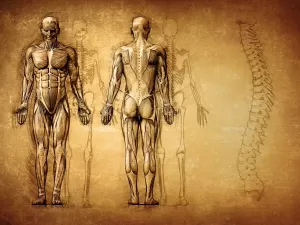










Deixe seu comentário