Escritora recorda tortura na ditadura: choques na vagina e afogamentos

De origem humilde, a aposentada Maria do Socorro Diógenes, 80, está entre os brasileiros torturados nos anos mais violentos da ditadura. Foi também nessa época que ela encontrou o amor de sua vida, Ramires Maranhão do Valle. Aos 19 anos, ele já vivia na clandestinidade e, por isso, fugiu de Pernambuco para o Ceará.
Membros do PCBR (Partido Comunista Brasileiro Revolucionário), os dois viveram sua paixão morando juntos na capital cearense e só se separaram quando foram delatados por companheiros presos pelo regime. A polícia invadiu a casa onde viviam, mas o casal fugiu antes.
O partido enviou Ramires para o Rio de Janeiro, onde seria assassinado tempos depois. Seu nome está entre os 434 mortos e desaparecidos no relatório da Comissão Nacional da Verdade, criada para apurar graves violações dos direitos humanos ocorridas entre 1946 e 1988.
Já Maria do Socorro, a contragosto, foi enviada ao Recife, onde viveu na clandestinidade, até ser presa e torturada. Ela escreveu o livro "Amor, Luta e Luto no Tempo da Ditadura" (Ateliê Editorial), no qual conta sua trajetória. Abaixo, ela conta sua história:
"Nasci em Jaguaribe, no Ceará, em uma família muito pobre, de camponeses. Sou a sétima de 10 filhos, com mãe e pai analfabetos. Morávamos em uma fazenda e não havia escolas. Uma senhora da propriedade vizinha reunia as crianças do lugar e nos alfabetizava.
Meu irmão mais velho, seminarista, sabia do meu desejo de ser freira e contou às irmãs da Santa Casa de Misericórdia, em Fortaleza. Elas mandaram me buscar, mas eu tinha só 12 anos, era bem magrinha. Quando me viram disseram que não seria possível e teria que esperar até os 18. Respondi: 'Santa Terezinha entrou no convento com 12 e foi freira'. Acharam graça e acabei morando na Santa Casa e estudando.
Consciência política
Quando completei 18 anos, já não queria mais ser freira. Fui viver sozinha, mas continuei ali, trabalhando na enfermagem. Esse aprendizado era na prática, sem curso. Foram alguns anos assim até que me desliguei. Em 1968, passei no vestibular de letras, na Faculdade Estadual do Ceará e fui morar na residência universitária, que era gratuita.
Conheci o pessoal de esquerda bem no meio do rebuliço político no Brasil e no mundo. Fui me engajando nos movimentos, tinha muita agitação e fazíamos aquelas passeatas imensas. Quando passava a polícia, a gente saía correndo.
Através dos colegas na faculdade, conheci o pessoal de grupos revolucionários e do PCBR. Comecei a participar das reuniões e, em um desses encontros, no final de 1969, conheci o Ramires, um pernambucano que estava no Ceará por causa de perseguição política. No partido, começamos a ter ideia das torturas que aconteciam.

O namoro começou em uma noite quando o pessoal foi num barzinho tomar cerveja. Estavam tocando umas canções bonitas, chamei-o para dançar, mas ele disse que não sabia. Era uma música lenta, falei que não precisava saber e ficamos um tempo só no 'dois pra lá, dois pra cá'. Saiu um beijo e começamos a namorar.
O amor nos anos de chumbo
Tinha 25 anos e não estava na clandestinidade, mas ele sim. O Ramirez estava com 19 e havia começado na política quando era secundarista. A gente não se encontrava muito por segurança, não podia dar bandeira.
Newsletter
HORÓSCOPO
Todo domingo, direto no seu email, as previsões da semana inteira para o seu signo.
Quero receberTempos depois, o partido me informou que precisava montar um aparelho, alugar uma casa com pessoas que não eram procuradas e colocar nela militantes que viviam na clandestinidade. Não aceitei de pronto. Acreditava que a culpa das prisões era dos aparelhos. Os capturados sempre revelavam onde estavam os outros e a polícia baixava.
Mas me convenceram e, como amava o Ramirez, foi uma oportunidade de ficarmos juntos. Moramos nessa casa cerca de um ano, em 1970. Mas eles mandaram um mocinho de uns 16 anos, o Moleque, para morar conosco. Quando o rapaz foi preso numa panfletagem, entregou o que sabia, incluindo nosso aparelho. Deu tempo de fugirmos e, a partir daí, caí também na clandestinidade.
O ano que passamos nessa casa foi muito bom, apesar de tudo o que acontecia de pesado no país, com a ditadura. Nós nos amávamos muito, mas tínhamos consciência da luta, do risco. Depois que estouraram o aparelho, não podíamos mais ficar em Fortaleza.
O partido o mandou ao Rio de Janeiro e eu para Recife, no final de 1970. Questionei. Não queria me separar dele, desejava ir junto para o Rio. Se já estava clandestina, poderia fazer o trabalho em qualquer lugar. Mas não abriram mão.
Foi uma despedida muito triste, não via sentido nela. Nós não nos vimos nunca mais.
Vida clandestina

Fui para Recife e tirei documentação falsa. Meu nome era Laura Maria Mendes. Trabalhava em uma fábrica de tecidos. Na época, também comecei a participar da Associação Católica Operária, um movimento da igreja e me sindicalizei. Fazia o trabalho de conscientização dos operários e entregava panfletos do partido.
Tinha alugado meu apartamento e chegou uma menina, a Helena, que estava sendo perseguida no Ceará. O partido a colocou para morar comigo. A Helena namorava um rapaz do movimento estudantil, que foi preso. Logo chegaram nela, que contou sobre mim.
Pau de arara e afogamentos
Era 4 de abril de 1972 e saí da fábrica no meu horário, às 14 horas. Já tinha informação de que Helena tinha sido presa e voltei para casa prestando muita atenção em tudo, durante o caminho. Olhei no barzinho em frente do meu prédio e tinha um homem em pé, por ali. Quando abri a porta dei de cara com a polícia dentro de casa.
Eles me prenderam e, na calçada, aquele homem que vi na rua veio e colocou um capuz em mim. Achava que já o conhecia e depois tive certeza: era o Cabo Anselmo [espião infiltrado nos movimentos de esquerda]. Fui levada para o DOI-Codi, que ficava nos porões IV Exército, em Recife.
Fiquei presa até o dia 29 de abril. Nas sessões de tortura a gente já chegava sem roupa e íamos recebendo choques elétricos na vagina, nos seios, na orelha, chutes.
Passei por afogamentos com capuz, que grudava na boca e no nariz. Era mandada para o pau de arara e ficava ali pendurada. Não sei quantas vezes isso aconteceu. Perdi totalmente a noção de tempo.
Uma noite saíram me arrastando e dizendo que iam me matar. Me jogaram num camburão e rodaram bastante. Pararam num certo ponto, me tiraram do veículo e falaram: 'Não vamos te matar, mas te colocar em uma solitária e espalhar para todos que você morreu'. E assim fizeram. Fiquei em uma cela isolada não sei quantos dias. Mas não entreguei ninguém.
Então, um dia, me liberaram para a prisão feminina, no convento do Bom Pastor. Quando cheguei, as pessoas batiam palmas, alegres e não sabia o porquê. Era por eu estar viva, achavam que eu tinha morrido, mesmo. Ali não era mais torturada e fiquei no lugar até o julgamento, que aconteceu em 13 de dezembro de 1972. Eu e essa turma de estudantes que caiu comigo fomos todos absolvidos.
Voltei para a casa de meus pais, em Jaguaribe. Minha ideia era passar um ano com eles, depois ir para São Paulo e retomar os estudos.
Quando estava em Jaguaribe sempre ia a Fortaleza, onde encontrava os ex-companheiros, o pessoal que tinha sido preso e tentava voltar à vida normal. No fim de 1973, eles me falaram da morte de Ramirez, no Rio de Janeiro. Ele havia sido assassinado pela polícia. Estavam ele e mais três em uma praça, dentro de um Fusca, veio a polícia e os metralhou. Mas nunca se soube nada de concreto.
O irmão dele, através de pesquisas da Comissão Nacional da Verdade, chegou ao atestado de óbito, segundo o qual Ramires teria morrido carbonizado dentro do veículo incendiado. Foi muito triste. Tinha esperança de vê-lo novamente no Rio. Ramires foi o grande amor da minha vida. Sofri e chorei muito quando soube da morte dele. A família não ficou com o corpo, o enterro foi clandestino.
Tudo valeu a pena
Acabei mudando para São Paulo como planejava e procurei levar uma vida normal. Fiz transferência da faculdade e terminei o curso de letras.

Casei em 1979 com um aluno do curso de sociologia e nos separamos em 1984. Não tive filhos. Trabalhei 20 anos como professora, fiz concurso, atuei cinco anos na direção e me aposentei como supervisora de ensino.
Quando cheguei em São Paulo, me filiei ao PCB (Partido Comunista Brasileiro) e cheguei a concorrer como vereadora, em Santo André, em 1992.
Se valeu a pena tudo que passei? Sim. Estávamos em uma ditadura militar e toda luta pela democracia era válida. Apesar de todas as perdas de companheiros gloriosos, que morreram, foram assassinados, valeu a pena.







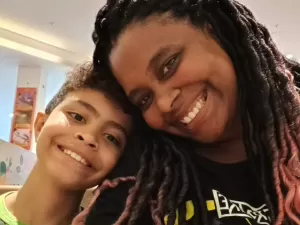











Deixe seu comentário