Como a psicanálise pode intervir no conflito entre israelenses e palestinos

A história da psicanálise não pode ser separada da história do judaísmo. Ainda que Freud não praticasse a religião, teve sua carreira como pesquisador interrompida por sua ascendência judaica. Ainda que não participasse ativamente da política de sua época, teve que se exilar na Inglaterra, refugiando-se do nazismo.
Freud e Theodor Herzl [1], criador do sionismo moderno, moravam na mesma rua em Viena, mas apesar disso jamais conversaram entre si.
A diáspora psicanalítica [2] não poderia ser compreendida sem a condição judaica de muitos dos primeiros seguidores de Freud, assim como a própria fundação do movimento psicanalítico na Palestina britânica [3].
Nos seus piores momentos a psicanálise já foi chamada de "ciência judaica", o que coloca este movimento em sintonia com todos os discursos e práticas de resistência contra o preconceito, a segregação e a violência contra minorias.
A crítica do antissemitismo [4] é o embrião da reflexão contemporânea sobre as violências de gênero, de raça, de etnia, de classe.
Mas o sucesso do sionismo na criação do Estado judaico, e o preço que ele impôs aos habitantes da Palestina, ainda que vários fossem judeus [5], trouxe novas questões para o mundo e novas considerações sobre os direitos humanos e sua aplicação real em situações reais.
Nesta segunda situação o intrincado quebra-cabeças político, assim formado, tornou-se cada vez mais um desafio para a reflexão crítica.
O conflito Israel-Palestina tornou-se, depois de 1948, gradualmente um caso modelo para a forma como lemos, interpretamos e produzimos respostas para conflitos.
Aqui não se pode dizer que se trata de conflito político apenas, pois a natureza do problema é que o caso desafia os limites e as fronteiras do que chamamos de política.
Ela traz de volta aspectos que teríamos abandonado na própria formação da política contemporânea, cujo marco são as instituições internacionais criadas depois da Segunda Guerra Mundial, como ONU, Unicef, FAU e Otan.
Mas é justamente por neste conflito se misturar considerações teológicas, sanitárias, étnicas, econômicas e culturais que ele não pode ser enfrentado a cada momento por tomadas de posição simples, que reforçam os termos pelos quais o problema se formou.
Talvez aqui a psicanálise possa participar em uma pequena franja da questão, como "tecnologia" de tratamento e reflexão sobre conflitos humanos, particularmente no que diz respeito ao confronto entre políticas do sofrimento.
Aliás, são termos constitutivos do problema noções de vaga aplicação na antiguidade, tais como fronteiras, bordas e limites entre nações.
Se o conflito Palestina e Israel interessa a tantos, é porque as posições assumidas servem como linhas divisórias para a própria constituição de campos políticos, como esquerda e direita, conservadores e progressistas. É possível que tomadas de posição "automáticas" [6] reflitam menos posições reais sobre o conflito do que projeção de posições locais, que são a sua versão deslocada e miniaturizada.
Por isso olhamos para os recentes acontecimentos no quadro de uma teoria geral dos conflitos humanos e na perspectiva de uma ética da solidariedade, que encontra alguma afinidade com a psicanálise e sua própria política de que diante do sofrimento, pergunta pela maneira como colocamos a questão, e não apenas endossa a forma com devemos enfrentá-la.
Newsletter
Um boletim com as novidades e lançamentos da semana e um papo sobre novas tecnologias. Toda sexta.
Quero receberPor isso, passamos boa parte do tempo refraseando o problema antes de agir, antes de reforçar um de seus polos e antes de consolidar oposições naturalizadas que por pressuposto concorreram para a formação do impasse.
Ou seja, não aderir aos termos da questão, sem previamente olhar para sua arqueologia e genealogia, sem atentar para quem nos interpela com uma resposta rápida e urgente, sem escutar o território onde a questão emerge, fazem parte da atitude psicanalítica.
Isso recomenda suspender, ainda que por um tempo não indefinido, o juízo sobre os conflitos. Esta suspensão não é um refúgio na neutralidade benevolente, que indiretamente sanciona situações crônicas de injustiça e violência, nem o silêncio indiferente, que se apoia no álibi de que nada temos que ver com situações políticas.
Notas de apoio ou repúdio podem ser importantes, mas elas trazem consigo o efeito colateral de repor e consolidar os termos do problema.
Se aproximamos o olhar focando-o na perda de vidas humanas, civis e crianças, atacados de forma desavisada e massiva, a indignação e repúdio são imediatos e não relativizáveis. Mas se recuamos o olhar para o fato de que populações palestinas sofrem cronicamente em estado de desumanização, violação de direitos e perdas de vidas humanas por ações militares, também chegaremos à indignação e ódio contra seus perpetradores.
Isso nos convidaria a recuar ainda mais os termos do problema, por exemplo, para a reinterpretação histórica da declaração de Balfour em 1917, de sua sanção pela Liga das Nações em 1920, pela dissolução do Império Otomano, pela declaração da ONU em 1948, para a Guerra dos Seis Dias em 1967, a Guerra do Yom Kippur em 1973, a primeira Intifada de 1987-1990 (quando surge o Hamas), os acordos de Oslo em 1993, e a segunda Intifada nos anos 2000-2004.
Ainda assim o problema de como contamos a história, e quais são os capítulos que pulamos ou enfatizamos, é insolúvel. Afinal, porque não incluir nesta lista os massacres de Sabra e Chatila, em 1982, ou a recusa palestina em aceitar os acordos de paz? Por que a ocupação de Jerusalém Oriental foi esquecida nesta série?
A lista de variáveis e de fatos históricos a considerar pode ser acrescida ou reduzida segundo a posição que se quer defender.
A história dos fracassos de negociação se confunde assim com a própria natureza da questão, pois haverá elementos substanciais, de parte a parte, para recriar a história recente.
Não se pode deixar de mencionar que um momento decisivo deste percurso é o assassinato de Yitzhak Rabin, em 1995. Este acontecimento funciona como símbolo de todas as forças, discursos e movimentos para os quais a paz não interessa. Portanto, além da dificuldade de definir os "quandos" da questão, o próprio consenso sobre os "quens" não é claro.
Infelizmente, tomadas de posição sem tais esclarecimentos podem ser apenas uma incitação à guerra das razões, das histórias e dos personagens, que só interessa aos que se interessam pela manutenção deste estado de coisas.
Entendemos que a brutalidade e injustiça escaladas a um novo nível nestes inaceitáveis acontecimentos de 2023 podem ser o pretexto faltante para a paz.
Quando estive na Cisjordânia ocupada e na faixa de Gaza, em 2016, encontrei com o ministro da Religião e com o ministro das Águas, da Autoridade Palestina, em Ramallah. Para ele, a história do conflito remonta ao Velho Testamento e sua disparidade com o Corão.
Mas o que mais me impressionou nesta viagem, na qual me encontrei com líderes israelenses e associações sionistas, foi o discurso comum de que a solução passa pela criação de dois Estados, com a capital dividida em Jerusalém.
É certo que o apoio a esta solução vem caindo a medida que o governo de Benjamin Netanyahu consegue se manter, justamente capitalizando o dissenso em seu favor. Ao mesmo tempo, há 40 semanas acompanhamos as manifestações de repúdio contra a tentativa do governo de introduzir uma regressão jurídica no Estado de Israel.
Nestes termos, quem apoiar ou repudiar: os palestinos ou o Hamas? O governo de Netanyahu ou os manifestantes que lhe são contrários? Qual enquadramento de discurso deve ser escolhido para a questão? A retórica da segurança, cujo fracasso pode levar à paz, ou o discurso da paz, cujo sucesso pode levar a perenização intolerável da situação?
Aqui o fator tempo reaparece novamente com uma curiosa consideração demográfica.
O tempo corre a favor dos conservadores que tendo mais filhos poderão se estabelecer nos territórios ocupados, na Cisjordânia e nas colinas de Golã, na fronteira com a Síria contra determinações da complexa lei internacional de ocupação, ou a favor dos palestinos que, comprimidos territorialmente, com sistemas de educação e saúde precarizados, por exemplo em Hebron, tenderão ao aumento da taxa de natalidade.
Os exemplos servem aqui apenas para mostrar como podemos recuar o conflito e suas razões, indefinidamente, para o passado, mas também podemos projetá-lo para o futuro. Neste caso, o símbolo desta inflexão temporal é Jerusalém. Cidade dividida é certo, mas quem lembrará que ali também estão as sedes de inúmeras religiões cristãs, dos etíopes aos armênios.
Como disse o pastor Henrique Vieira, com quem estive na ocasião: existe uma dificuldade de base em pré-compreender os próprios personagens do conflito. Como se o Jesus histórico fosse o mesmo Jesus imaginário (o atributo foi proposto por ele mesmo). Como se a Israel imaginária fosse a mesma Israel de que se fala e sobre a qual tomamos partido e asseveramos juízos.
Recentemente meu colega e amigo Michel Gherman [7], foi silenciado e agredido aos gritos no interior do espaço universitário brasileiro.
Independente da afinidade com suas teses, é preciso reconhecer sua dedicação a estudar o conflito, a ler suas reverberações na política brasileira, seja pela via da ascensão do bolsonarismo e sua relação de aliança entre o neoprotestantismo, seja pela mítica sionista da endocolonização do judaísmo [8].
Um ótimo exemplo de reprodução e importação errática do conflito contribui para perpetuá-lo. Dizer que este ou aquele "não representa Israel", replica e revela como a recusa de reconhecimento está na gênese da gramática do conflito.
Na mesma direção poderíamos retomar o comentário de Salem Nasser sobre o uso da expressão "terrorista" como significante de silenciamento automático e justificava para violência ou "democracia", não como um significante em disputa, mas como um predicado de identidade de um lado ou outro.
Assim também o boicote a Israel, conhecido como BDS, que vigora com mais força entre os países anglo-saxônicos, tem uma relação direta com a "forçagem" institucional das negociações do que com a destituição de agentes políticos em massa.
Qualquer tomada de posição requer, portanto, uma leitura preliminar do que estamos chamando de atores do conflito, ao risco da imaginarização especular, em cruzamento e confusão projetiva com o próprio mapa político local brasileiro.
Atores só existem dentro de discursos, e os seus personagens podem mudar constantemente.
Por exemplo, quando falamos em Israel, de que falamos? De suas lideranças políticas de direita, que se aproveitam do discurso da segurança para cooptar mentes e almas? Ou da esquerda que luta bravamente para deter o avanço da xenofobia e pelo fim do conflito?
O partido palestino Balad e o Meretz, duas siglas de esquerda, não conseguiram alcançar o número mínimo de votos para entrar na Knesset, nas eleições de 2022. Isso acontece também porque a paralisação do processo e seus fracassos repetitivos aumentam a polifonia de vozes, dividindo religiosos, a esquerda e a direita, os movimentos sociais e até mesmo o exército. Assim também quando juntamos Hamas e Fatah, que representam duas correntes muito diversas dentro da política palestina, quem sai ganhando é a reprodução da lógica do conflito.
É possível que a crítica internacional a Israel e a consolidação dos termos "naturais" do conflito —qual seja, "se você é a favor de Israel você é contra a Palestina e vice-versa"— estejam concorrendo para estagnar a possibilidade de mudança interna naquele país e a leitura do conflito por potências como Rússia, China, Irã e Estados Unidos.
Confirmamos assim a forma simétrica, inversa e recíproca, como regras elementares de funcionamento do Imaginário, assim como descrito por Lacan.
A quem interessa o desinteresse pela política? Quem ganha com a tomada de posição que confirma a existência, por exemplo, de "judeus", confundindo-os com os israelenses? Apenas 70% da população daquele país é constituída por praticantes da religião judaica, 20% são islâmicos, e quase 5% são minorias como cristãos ortodoxos, drusos, menonitas, sem falar dos 8% dos árabes que são cristãos.
Mas quantos judeus se reconhecem pela religião e quantos estão a ela ligados culturalmente, dizendo-se ateus, como Freud, ou parte de uma civilização, como diz Amós Oz? E quantos estão em Nova York, São Paulo ou Buenos Aires, mas se sentem membros desta comunidade simbólica em diáspora?
AIgo análogo se poderia dizer dos palestinos. A quem nos referimos? Os que vivem em acampamentos na fronteira com a Síria, conservando a chave real de suas casas, que foram invadidas e ocupadas violentamente há cinquenta ou sessenta anos? As 2 milhões de pessoas que vivem na prisão cercada por muros e torres de vigilância, sem porto razoável, na faixa de Gaza? Os militantes do Hamas ou do Hezbollah? Ou os remanescentes da Autoridade Nacional Palestina, politicamente precarizados, em meio a estações de controle e circulação vigiada, mesmo dentro de seu próprio território?
Como observou Arlene Clemesha, com quem pude participar de encontros acadêmicos sobre o conflito, Israel nunca esteve tão pressionado para mover-se rumo a uma solução pacífica para o conflito como agora. Talvez por isso os ataques dramaticamente desleais a cidades israelenses tenham sido uma forma de suspender o estado indefinido e perpétuo de conflito e retaliação.
Mas então, "quem ou quê" devemos apoiar, entre palestinos e israelenses, se queremos efetivamente caminhar para o tratamento do conflito pela palavra?
Não basta simplesmente dizer que ambos estão errados, como se estivéssemos a conduzir uma briga entre crianças, mas de conseguir manter os dois focos ao mesmo tempo: o olhar de perto, solidário e indignado com o ataque do grupo terrorista Hamas, assim como para eventuais retaliações massivas correspondentes de Israel.
Mas ao mesmo tempo é preciso considerar o olhar de longo alcance, capaz de discriminar e reduzir a imaginarização dos personagens, sua apropriação possessiva pelos "donos" do judaísmo ou pelos "proprietários remidos" da causa palestina.
Precisamos de um olhar de médio alcance, que "force" o retorno à palavra e o tratamento do Real pelo simbólico, sem presumir a inexistência simbólica de inimigos.
Não há simetria sobre quem está "mais errado" porque não há equivalência no interior dos termos do conflito, um tem mais armas, mais tecnologia, mais poder, o outro tem menos. Isso não significa que quem tem menos tem sempre razão.
A desrazão também se distribui desigualmente quando recusamos a lei geral do reconhecimento e tratamos quem quer que seja, como uma não-pessoa, um não-Estado ou uma não-nação.
Se queremos contribuir para a discussão e talvez mitigar o sofrimento, cuja contabilidade obscena nos recusamos a fazer, precisamos defender a palavra e sua lei mais geral que é o reconhecimento, inclusive o reconhecimento do que não pode ser comparado, nem medido, nem simetrizado: a dor humana.
Redução do Imaginário, reconhecimento do Simbólico e consideração pelo Real, como irredutível ao Simbólico ou ao Imaginário, determinam assim nossa forma de abordar conflitos em geral, e não seria diferente neste caso.
REFERÊNCIAS
[1] Criador do movimento do sionismo político moderno, escritor do livro "O Estado Judeu", deu origem aos congressos sionistas. Faleceu em 1904.
[2] O termo diáspora para designar as comunidades psicanalíticas que se formaram a partir do exílio forçado, no contexto da ascensão do nazismo foi consagrada por Renato Mezan: "Com "essa verdadeira diáspora, no sentido grego do termo - dispersão de sementes" (p. 25), vemos brotar da raiz freudiana quatro novos troncos que se constituíram como escolas: a "kleiniana, a lacaniana, a psicologia do ego americana e a escola britânica das 'relações de objeto'" (p. 26). In Mezan, Renato (2014) O Tronco e os Ramos. São Paulo: Companhia das Letras.
[3] Libermann, G. (2012) A Psicanálise em Israel: Sobre as Origens do Movimento Freudiano na Palestina Britânica (1918-1948). São Paulo: Annablume, 2019.
[4] Adorno, T. e Horckheimer, M. (1944) Elementos de anti-semitismo. Limites do Esclarecimento. In Adorno & Horckheimer (1985) Dialética do Esclarecimento. Rio de janeiro: Jorge Zahar.
[5] Um dos problemas para colocar com justeza a questão são os mitos fundadores, de parte a parte, que tendem a projetar no passado categorias que fazem sentido apenas na modernidade ou até mesmo no contexto contemporâneo da disputa. Por exemplo, afirmar a unidade "nacional" e a "identidade" de populações divididas, submetidas a conversões forçadas, exílios, escravização, alianças políticas e ocupações. Dizer, por exemplo, que à época da revolta de Massada a região se dividia "apenas" entre judeus e árabes é um exemplo de imprecisão deste tipo. Sand, Shlomo (2011) A Invenção da Terra de Israel: Da Terra Santa à Terra Pátria. São Paulo: Benvirá.
[6] A importância do conflito Israel-Palestina é significativa para a política global, tanto pelo fato de que o desequilíbrio político na região do Oriente Médio afeta diretamente a economia mundial, por seu impacto no petróleo, como na crise de 1973, que afetou significativamente o Brasil, quanto pelo fato de que suas polarizações captam e replicam antagonismos mundiais, como os que caracterizaram o período da Guerra Fria, a discussão internacional sobre direitos humanos, o estatuto de poder e força das instituições reguladoras da ordem global depois da Segunda Guerra Mundial e as circunstâncias de excepcionalidade quanto a aplicação de tal "consenso" ao caso concreto.
[7] São exemplos de como podemos praticar aqui e agora, no Brasil e no seu contexto próprio de intolerância, as mesmas regras que esperamos para o tratamento do conflito. Gherman e Nasser podem ser criticados em suas teses e na forma como defendem seus entendimentos, mas se não pudermos colocar princípio gerais como o repúdio a censura e a crítica da retórica da violência, independente de suas posições políticas nos desautorizamos a nos manifestarmos de qualquer forma que não seja o jogral do apoio e do repúdio.
[8] Gherman, Michel (2022) O Não Judeu Judeu: A Tentativa de Colonização do Judaísmo pelo Bolsonarismo. São Paulo: Fósforo.





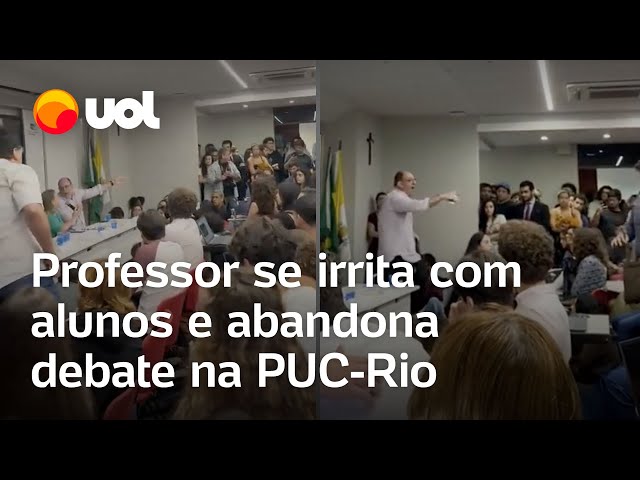















Deixe seu comentário