Ana Paula Xongani: "Tenho fome de construir a imagem preta positiva"

De vez em quando a influenciadora digital Ana Paula Xongani tenta imaginar como será quando a humanidade de um futuro distante for pesquisar sobre o Brasil de 2020. E tem medo de que, mais uma vez, haja um apagamento de grande parte dessa história, fazendo com que ela seja contada sob um único ponto de vista. "Fico imaginando que um dia, quando os escafandristas forem rever os nossos documentos, [pesquisar] quem é essa civilização de 2020, a imagem de pessoas como eu precisa existir nessa história. Eles não podem chegar aqui e achar que era um país branco, sem diversidade", preocupa-se.
Em país onde gerações de pessoas negras cresceram com pouca representatividade nos meios de comunicação e no período escolar, entre outros espaços, ela reconhece que teve uma experiência privilegiada, algo essencial na construção de sua autoestima. Na infância, sua mãe e tias faziam o máximo para que ela crescesse cercada de referências de pessoas negras bem-sucedidas. Nos seus aniversários, muitas vezes o tema era ela própria, com fotos suas ampliadas. Sua mãe — de quem é sócia no Ateliê Xongani, marca de roupas e acessórios — também exaltava mulheres negras que apareciam na TV, fazendo-a crer que eram muito mais famosas do que realmente eram, e buscava cercá-la de exemplos de mulheres negras em diversas áreas.
"Minha mãe me levava para conhecer o trabalho dela, o das amigas pretas dela, então eu achava que eu podia mesmo trabalhar com qualquer coisa, não era só falação. Não era só a partir da fala, eu não ouvia coisas: eu via isso. Ver fazia muita diferença", lembra ela, que desde o início do mês é nova colunista de Universa.
Hoje, aos 32, casada há 12 anos com o jornalista moçambicano Rogério Ba-Senga, 40, ela procura repetir a experiência com a filha de seis anos, Ayoluwa (que significa "alegria de nosso povo" no idioma iorubá). Em entrevista a Ecoa, ela conta como uma de suas principais missões é ajudar a construir o imaginário positivo sobre pessoas pretas.
Ecoa: Você diz que trabalha para criar um imaginário positivo para meninas e mulheres negras. Como procura fazer esse trabalho? E o que te motivou a ir por esse caminho?
Ana Paula Xongani: Sempre começo tudo que eu falo na minha infância, porque, de fato, fez muita diferença e pauta a minha vida. Eu fiz até um post e uns stories sobre isso. A minha tia, que é tia-avó da Ayo, deu um presente para a Ayo que só tinha meninas brancas e ela repintou, por cima. Minha mãe sempre fez isso. Meus brinquedos tinham a minha foto. Era uma doideira. Nos meus aniversários, elas criavam a Ana Paula personagem — essa mesma tia é arquiteta, e ampliava o desenho, fazia em escala grande. Na época, você não ia na Vinte e Cinco [de março, rua de São Paulo com forte comércio popular] e comprava enfeite de festa, elas faziam e tal. Então, eu tenho a convicta certeza de que a minha autoestima foi construída a partir da imagem. Tive a oportunidade de, desde muito pequena, ter um banco de imagens muito positivo sobre mim. A minha autoestima de fazer e acreditar no que eu estou falando, de me expor, sempre existiu, não é de agora. Foi graças a essa imagem que sempre achei que estava tudo bem comigo, a partir desse imaginário que foi construído.
Minha mãe me levava para conhecer o trabalho dela, o das amigas pretas dela, então eu achava que eu podia mesmo trabalhar com qualquer coisa, não era só falação. Não era só a partir da fala, eu não ouvia coisas: eu via isso. Ver fazia muita diferença. Acho que a primeira consciência é essa da infância e de perceber que eu tinha um recurso visual muito grande. Por exemplo: na década de 80/90 (eu sou de 88), as famílias pretas [em geral] não tinham foto, não tinham imagem. A minha família sempre teve, o meu pai sempre teve máquina fotográfica. Eu tenho fotos e fotos da minha infância. Isso parece bobagem, mas constrói imaginário e memória imagética. Então, acho que esse é um segundo ponto.
O terceiro é que, com a dislexia, eu também percebo que uma das formas mais fáceis de aprender, para mim, é a partir da imagem. Eu aprendo muito mais vendo as coisas. Entendi que é um recurso importante para mim e deve ser para muitas pessoas a possibilidade de você ver tudo isso. E aí depois, mais elaborada, mais adulta que eu entendi esse lance do imaginário como ferramenta de mudança. Não tem como você imaginar mulheres negras, por exemplo, bem-sucedidas se você não vê essa imagem. A gente registra a partir dessa imagem. Não tem como minha filha se imaginar apresentadora de TV ou médica ou dentista se ela não vê essa imagem. A imagem é um fator muito forte e que nos educa inconscientemente. Todo mundo fala: "Ai, que gosto não se discute." Ao contrário: gosto se discute e é construído principalmente a partir da imagem. E dá um desespero quando você percebe que a gente é educado pela imagem. Porque a imagem que a gente vê não é nossa. Então, quando eu tive essa consciência, falei: "Porra, se a gente é educado por imagem e a gente liga a TV hoje e não tem ninguém, não tem ninguém no livro, não tem ninguém na escola, se as professoras não são [negras], que imagem está sendo construída?"
Um exemplo disso é: uma vez saiu uma matéria dizendo que eu era mãe solo. E eu não sou. Sim, a maioria das mulheres que vivem no celibato forçado é de mulheres negras. Mas, sim, existem mulheres negras casadas com homens negros. É isso, temos tudo. Vamos, sim, priorizar uma discussão sobre maioria, mas vamos também organizar o discurso para a gente se manter plural.
A gente vê a sua família bastante no seu Instagram e no seu canal. Qual a importância dessa imagem que mostra, dessa família preta feliz, unida? O que você procura fazer quando inclui sua família nessa narrativa?
Acho que é essa possibilidade de existir, né? Se a gente não constrói possibilidade, a gente não tem referência, não alcança nada. Fica tudo muito no campo subjetivo. Quando essa possibilidade é concreta, ela é concreta para mim, mas é para muitas pessoas. Definitivamente não é uma narrativa atônita de felicidade. Mas nunca é, nem para mim nem para as pessoas não negras. Não é uma felicidade plena, completa e concreta. Não é. Ela é mutável, muda, um dia eu estou feliz, um dia não estou. Mas a escolha de postar isso é muito comum para as pessoas não negras e não é muito comum para nós. Quando eu publico a minha família — não só minha filha e meu companheiro, mas também minha mãe, meu irmão, meu pai —, é só para marcar esse lugar no mundo, que é nosso e é de tantos, é de tantas pessoas. Por exemplo: as pessoas me falam muito assim: "Ah, porque as famílias pretas isso, aquilo...". Calma, né? De que famílias pretas a gente está falando? Ou por exemplo: eu sempre brinco que a narrativa da transição capilar não é minha. Ou do tornar-se negra: não é minha. Sabe? Ou do me descobrir negra: não é minha. Ou "esse assunto de racismo nunca foi dito na minha casa": também não é minha. Ou de violência doméstica: não é minha. Respeitar a diversidade das mulheres negras, das pessoas negras é importante.
E, cara, a gente avança, mas às vezes a gente ainda cai na vala de colocar todas como iguais. Acho que uma coisa é a maioria, outra coisa é um discurso único, "O perigo de uma história única" da Chimamanda [Ngozi Adichie] (palestra da autora nigeriana no TED que virou livro). Gosto muito de fazer esse trabalho na internet de contrapor narrativas. De dizer: "Sim, tem isso, mas tem isso." Porque acho que um dos meus grandes ativismos é nos mostrar plurais e diversos. E aí o exemplo disso é: sim, a maioria das mulheres que vivem no celibato forçado é de mulheres negras. Mas, sim, existem mulheres negras casadas com homens negros. É isso, temos tudo. Vamos, sim, priorizar uma discussão sobre maioria, mas vamos também organizar o discurso para a gente se manter plural.
Até para as pessoas terem a possibilidade de sonhar, né?
É claro. Quero que a minha filha sonhe com essa família. Eu preciso gerar possibilidade. Não é sobre ser exatamente isso, mas sobre ser possível. E, nossa, engraçado eu estar falando isso: faz muita diferença a gente ver, ter referência, né? Muita diferença mesmo. Eu lembro até quando eu comecei a me relacionar com o Rogério — estou olhando aqui para o meu marido —, ele falava isso. Porque a gente era cercado de famílias mais velhas pretas: minha mãe e meu pai, que são casados até hoje, minha madrinha e meu padrinho, minha avó e meu avô. E até para ele, que era um homem adulto — claro que, na experiência dele como homem moçambicano, é comum, mas aqui no Brasil era raro. E eu tenho certeza que foi por isso que ele casou comigo (risos). Estou brincando! Estou brincando e não estou. É possível, mas como é possível se eu não vejo? Se eu não vejo, não existe. Então, vamos tornar visível.
Você estava falando dessa construção do imaginário. Você cresceu nos anos 90. Hoje a gente tem alguma representatividade na TV e tem a internet. Havia mulheres famosas que te inspiravam? E quem eram elas?
Não havia mulheres famosas, mas minha mãe falava sobre essas mulheres como se elas fossem muito famosas. E eu acreditava. Por exemplo: a minha filha não tem noção de volume de fama. É assim: tem gente que está na TV e tem gente que não está. Então, se eu falar para a minha filha que a Iza ou que a MC Soffia é tão famosa quanto a Anitta, ela vai acreditar. Minha mãe fazia esse mesmo processo (risos). As pessoas que estavam à minha volta, minha mãe falava delas com muito apreço, então eu acreditava que elas eram muito incríveis. E, até eu entender o lugar social dessas pessoas, essa autoestima já estava fortalecida. E hoje, sim, a gente de fato tem pessoas muito famosas e que dão para a minha filha essa referência.
E é muito engraçado, porque eu posso dizer que a maioria das pessoas famosas pretas do Brasil eu conheço pessoalmente. Tem uma foto linda no meu Instagram em que a minha filha está abraçando a Iza, como se fosse a tia dela, sabe (risos)? Então para ela é meio que a mesma relação, só que inversa: a minha mãe transformava mulheres que eram fodas, ativistas incríveis de fato nas suas profissões em mulheres famosas, e eu, para a minha filha, faço um pouco o oposto, as mulheres famosas eu aproximo dela e faço assim: "Olha, elas são famosas, mas estão aqui na nossa casa", "A Érica Malunguinho te mandou um áudio", ou sei lá, a Iza, Taís Araújo, Cris Vianna, a [Camila] Pitanga - está todo mundo com você. As pessoas conversam com a Ayo, isso é muito louco, e eu fico muito orgulhosa, porque acho que isso vai fortalecê-la de alguma forma, ela vai ter essas referências, e isso faz muita diferença. Já vejo como é ela em relação a seus ídolos. Eu nunca tive um ídolo famoso. Foi uma coisa que eu não consegui construir. Eu não tinha um pôster no meu armário. Nunca tive. E ela já tem, entendeu? Que bom, sabe, que ela pode ter um pôster no armário dela e que, quando ela olhar para esse pôster e olhar para o espelho que está do lado dela, ela vai encontrar similaridades. Isso é muito bonito.
Além dessa questão da representatividade, como vocês buscam fazer a educação dela? Quais os principais desafios? E o que é mais importante? O livro da Peppa (em 2016, Xongani viralizou pela primeira vez ao denunciar por racismo o livro infantil "Peppa", de Silvana Rando, em que a personagem principal tinha um cabelo capaz de arrastar o carrinho de supermercado e uma geladeira) foi uma indicação da escola da Ayo?
Foi. Quando eu fui questionar sobre a diversidade da escola, eles falaram: "Sim, a gente inclusive trabalha um livro ótimo." E aí me indicaram esse livro. O nosso trabalho é a lei da vara curvada [teoria proposta por Lênin], de mostrar o outro lado. A gente tensiona a vara para o outro lado para que ela fique minimamente ereta quando a gente soltar. A gente sabe que o mundo apresenta uma coisa, então a gente precisa criar um mundo paralelo ali para equilibrar essa coisa. Vou dar o exemplo das bonecas: a Ayoluwa tem quatro Barbies, três pretas e uma branca. A gente equaliza isso. Ou a gente opta por personagens neutros, como, por exemplo, o unicórnio. No quarto dela, a decoração é de unicórnio. Porque também precisa existir um lugar de possibilidades.
A gente não quer que ela fique num mundo onde todo mundo é negro. Não é isso. Mas precisa equilibrar as coisas. Só que, considerando que o mundo apresenta só uma parte, eu preciso fazer o esforço contrário, para apresentar muito bem a outra parte. Então, sem dúvida, a maioria dos livros que a gente lê para a Ayo é de autores negros e com personagens negros. Não necessariamente falando sobre negritude, às vezes é falando sobre a água, o mar, a lua, mas os personagens, negros. Existe, claro, eu não posso negar, uma hipercomemoração da negritude na minha casa. Então, quando aparece uma personagem negra, a gente fala: "Ah, nossa, que linda!". Teve um dia que ela ganhou uma Lol, que é um brinquedinho que tem muita diversidade até, as bonecas não são magras, têm todo tipo de pele e vários cabelos — é ótimo, eu amo a Lol por isso.
Para mim, o mais interessante é quando consigo apresentar a diversidade para ela. E aí você ganha e é surpresa. Ela ganhou, era uma Lol negra. Meu Deus: eu e o Rogério fizemos uma festa. Parecia que ela tinha ganhado um carro quando ela abriu: "Ah, é negra!". É muito engraçado, eu gostaria às vezes de filmar para rir no futuro, porque era eu, uma mulher adulta, o Rogério, um homem adulto, gritando para uma Lol, porque ela era negra. Há, sim, uma hipercomemoração da negritude que é necessária. Por exemplo, tem uma coisa que eu falo para ela quase todas as noites: "Filha, você é do jeito que sempre sonhei. Nossa, obrigada, deusas, porque é exatamente o cabelo que eu sonhei." Aí ela fala assim: "Era esse cabelo que você queria em mim? Exatamente esse cabelo?". "Olha esse tom de pele? Exatamente esse tom de pele."
É esse lugar do sonho, né? Quando a gente pensa no sonho, é o imaginário. O sonho está livre para tudo. Porque uma coisa é aceitar o que ela é, certo? Outra coisa é poder sonhar que ela era assim. Isso é muito forte.
Vocês fazem esse trabalho de compensar a falta de diversidade, mas a educação é uma questão. Ela é parte do racismo estrutural, ela ajuda essa estrutura a se manter. Você, enquanto mãe e criadora de conteúdo, como imagina que a educação deva ser? O que ela precisa fazer em relação ao que é hoje para de fato ser antirracista?
Primeiro, é a gente entender como está rolando hoje. Mesmo nas escolas públicas, a gente precisa entender que os gestores e os professores são em maioria não negros. É quem tem mais acesso à educação hoje e quem está decidindo a educação do Brasil. Com a lei de cotas, provavelmente isso vai mudar a longo prazo, porque mais pessoas [negras] têm acesso à educação, mais pessoas vão passar nos concursos públicos, e aí essa escola vai ser povoada de uma forma mais diversa. A gente vai precisar dos professores não negros — e, claro, dos professores negros, com certeza — para ensinar essa diversidade. É a ferramenta que a gente tem hoje, a gente não tem maioria de professores negros dentro da sala de aula hoje. A gestão é branca, os professores são brancos, então, automaticamente, o material distribuído também. A gente percebe o tamanho do problema que tem.
A escola é fundamental. A criança investe muita energia na escola. Não é nem só sobre tempo, mas o quanto a escola faz a vida dela ser importante: é o convívio social, é o reflexo da sociedade. Então, a gente vai precisar, sim, dos professores aliados, que vão fazer esse trabalho da diversidade. Falo muito isso nas escolas. É tão cruel que até o desenho para colorir, que vem em branco, é de pessoas brancas. Nem a possibilidade de a criança decidir há. Aí os professores falam: "Ah, mas o papel vem em branco, a criança pode pintar de preto." Sim, mas negritude não é só tom de pele, são traços. O cabelo é liso, os corpos são magros, os narizes são afilados, as bocas são afiladas, então, mesmo quando o desenho vem em branco, ele já está determinando raça.
A escola tem o papel fundamental de transformar o ambiente em algo diverso. Se os professores não são, o material tem que ser, desde os muros da escola até a lição de casa e as referências apresentadas. E, finalmente, aplicar a lei 10.639 (que estabelece a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira dentro das disciplinas que já fazem parte das grades curriculares dos ensinos fundamental e médio, modificada pela lei 11.645). Tem que fazer essa lei ser aplicada nas escolas de forma efetiva. Se a gente conseguir fazer acontecer essas duas coisas, show. Já seria uma mudança, um impacto muito, muito grande. E não só nas escolas. A universidade é um lugar perverso para as mulheres negras. Eu fiz Belas Artes, fiz faculdade de Artes, e foi assim: referência zero de arte negra, de design negro. Não é só no ensino básico, não. É em toda a vida acadêmica.
Você diria que isso mudou, acompanhando pela escola da Ayo?
Não. Esse foi um dos meus maiores sustos. Porque eu comecei a comparar a minha vida adulta com a infância da Ayo, então eu achava que estava tudo bom. Quando comecei a comparar a minha infância com a dela, vi que a gente evoluiu muito pouco. Muito pouco. É muito louco. A entrada da Ayo na escola me fez perceber o quanto a gente avançou pouco. Eu diria que avançou quase nada. Na prática, né? A gente já tem leis, políticas públicas, indivíduos fazendo coisas incríveis. Mas uma maioria, na prática, muito pouco.
Ela estuda em escola particular?
Estuda em escola pública. Isso é outra coisa. A gente escolheu que ela estudasse em escola pública, está no primeiro ano, já aconteceu isso e a gente vai avaliando. Sou filha da escola pública, ainda acredito nela. E outra, tem um ponto importante: a escolha da escola pública, para além de, de alguma forma, tensionar o sistema e participar dessa mudança, é o lugar mais diverso hoje. Tive que escolher entre talvez uma educação X e a diversidade que eu desejava. E aí eu optei pela diversidade. É o que falo no meu minidoc (em março deste ano, Xongani lançou "Por que preciso voltar para a escola?", filme que fala sobre a educação para meninas negras; ela foi uma das duas únicas influenciadoras do Brasil — a outra foi a Jout Jout — convidadas por Michelle Obama para participar de parceria da Girls Opportunity Alliance, da Obama Foundation, com o programa Creators for Change, do YouTube, e criar filmes sobre educação para meninas. Ao todo, oito mulheres realizaram documentários para o projeto): pertencer à escola vem antes de discutir currículo. Ela se sentir pertencente à escola é anterior. Para mim, ela estudar em escola pública é trabalhar nessa prioridade, de ela olhar ao lado e se ver. E não só se ver, mas ver diversidade também, porque tem criança atípica na sala de aula, tem muita criança boliviana, tem muita criança de outros países da América Latina, tem asiático, tem muita criança africana na escola pública, por causa da migração. A escola pública, dependendo do bairro onde você está, é um ambiente mais diverso que escola particular.
Você acha que uma das saídas para a mudança na educação é a participação das famílias?
Com certeza. A família e a escola têm que caminhar muito junto. Só que é isso: a família precisa ir para a escola entendendo que a escola não está preparada, e a escola precisa conversar com essa família e entender que a família também não está. Porque senão vira um joga-joga de responsabilidade. Sinto um pouco entre famílias e escolas um jogo de culpabilização. Está na hora de a gente se desarmar um pouquinho, tanto quanto família quanto como quanto colégio, para entender que está tudo errado. Por conta das estruturas, muitas famílias entendem a escola como um lugar à parte, uma educação à parte, não integrada. E entendo, eu falo: enquanto família, a gente também está ruim. A gente não está fazendo nosso melhor. Você vai às reuniões de pais, e elas não estão lá. Você vai na festinha, os pais não participam. Você pede colaboração, não dão. Terceirizam mesmo essa responsabilidade da educação para a escola. Isso não é bom.
Quando famílias estão dentro da escola, há mudanças. E também não posso deixar de dizer que muitos colégios são bem enrijecidos para receber essas famílias. Porque existem obrigatoriedades, principalmente nas escolas públicas, das quais as famílias participam, então essas obrigatoriedades muitas vezes são cumpridas, com os conselhos e tal, mas é tudo muito burocrático e menos real. Por isso fiquei muito feliz com um convite da escola da minha filha, que, por conta de toda essa movimentação racial e antirracista, me pediu uma conversa, que foi muito, muito boa e promissora para pensar diversidade. Era um "Seja bem-vinda a essa escola, você, família é bem-vinda", sabe? As famílias que já estão mais engajadas no processo da educação, para além de transformar essa escola, precisam também transformar outras famílias. Um puta trampo, mas é o que a gente precisa fazer hoje. É parar na porta do colégio, conversar com pai, conversar com mãe. Falar: "Oi, me dá seu WhatsApp?", buscar mais uma família. Trabalho de formiga muito grande.
Como você acha que as famílias brancas podem contribuir para esse processo antirracista? Porque ainda é difícil um engajamento real na mudança.
É muito. As famílias brancas se cansam muito rápido desse papo de antirracista. Eles ficam cansados. Eu até falei lá na Jout Jout (Xongani ocupou o perfil de Instagram da influenciadora em junho): "Vocês estão cansados? Mas não dá para parar." Porque cansa, né? Agora, parar é um problema. É muito louco esse negócio do antirracismo. A gente se sente abandonado muitas vezes. As pessoas se aproximam e vão embora com muita rapidez nas suas ações antirracistas. E os pais — ou os colegas de trabalho, pode ser aplicado — precisam querer isso de verdade. Querer isso muito. Querer que seus filhos tenham uma educação antirracista mesmo. É aí que a gente entra na estrutura do problema, porque a gente não tem certeza de que essas famílias querem muito isso. Porque isso de alguma forma também é mexer com os privilégios do seu filho, e filho é aquele ser que você protege às vezes inconscientemente.
As famílias brancas precisam entender que uma educação diversa vai ser boa para o seu próprio filho. Talvez isso seja a sua principal e maior motivação. Porque, enquanto for sobre o filho do outro, essa movimentação não vai acontecer. Quando essas famílias entenderem que isso pode trazer benefício próprio, para si mesmo, para a sua família, para o seu filho, para mim é uma esperança que eles tenham essa atenção
Que tipo de benefício, na sua opinião?
Todo mundo quer um filho não preconceituoso, um cara legal, uma menina legal dentro de casa. Nenhum pai, nenhuma mãe quer ser pai ou mãe do policial branco que matou George Floyd. Eu prefiro acreditar nisso. Nenhum pai ou mãe gosta de ter um filho violento. Então, ensinar práticas não racistas na escola é ensinar ao seu filho a não violência.
Agora, se você é um pai ou uma mãe que deseja que seu filho seja violento — porque é isso, né? A gente precisa chamar o racismo de violento. Se a gente não chama o racismo de violento, as pessoas realmente não vão entender por que precisa combater. Então vamos juntos, para que seu filho aprenda isso numa escola, aprendendo a ser antirracista, aprendendo a diversidade. Eu acho que é por aí. Não quero que a minha filha seja violenta com uma pessoa gorda — ela é supermagra. Eu não vou ter orgulho dela. Porque essa ação da diversidade não é uma ação só das pessoas brancas. É uma ação minha também. Minha filha é preta, mas não é gorda, não é atípica, não tem pais homoafetivos. Então eu vou falar assim: "Que recurso eu tenho para a minha filha não ser violenta com isso?". Vou lá na escola e vou pedir que a escola, junto a mim, eduque que está tudo bem ser uma criança gorda. Ou está tudo bem ter uma criança atípica na sala.
Fiquei feliz que ela um dia estava desenhando uma pessoa: "A minha professora disse que ninguém é pauzinho, bracinho de pauzinho, porque as pessoas têm camadas de gordura e pele". São essas coisas que quero para a minha filha. Também precisa tirar esse peso de que quem tem que lutar pela diversidade é só pessoa preta. Não, todo mundo! Seu filho é gordo, pode ser atípico, pode ser hiperativo, ter TDAH, dislexia? A diversidade não vai ser um benefício para o antirracismo, vai ser um benefício para todo mundo.
Como este momento de pandemia está impactando você, que é criadora de conteúdo? Eu já vi que a agenda está bombando.
A agenda está bombando, sim. A demanda é maior, mas, efetivamente, tem menos trabalho. Está tudo inflado: a especulação do mercado, a criação de conteúdo — muita gente criando conteúdo. Só que, por outro lado, quem sustenta essa cadeia de fato são as marcas. Elas estão cheias de medo, não conseguem fazer programações a longo prazo, porque ninguém sabe até quando essa pandemia vai.
Algumas marcas com que trabalho de forma perene, por exemplo, contratos anuais, sofreram impactos muito grandes. Está um momento muito difícil, de mais trabalho e menos recurso, e de muita incerteza. Um exemplo besta: se a gente mandava um orçamento para uma campanha, agora eles pedem cinco cenários. Porque está todo mundo sem saber, e porque tudo pode mudar a qualquer momento. E trabalhar em casa acho que não é uma novidade para o criador, pelo menos não para mim, mas eu estou trabalhando em casa com a família, com a educação da Ayo presente. Isso também tornou esse momento de trabalhar em casa muito mais difícil.
Para mim, que sou uma criadora preta e engajada em questões sociais, tem um abalo emocional muito grande. Por mais que não seja diretamente para mim, é sobre mim indiretamente. Uma invasão em terras indígenas: eu já fico mal. Fico mal real. Genocídio da população negra: eu fico no chão. E aí é muito difícil garantir o ecossistema do trabalho de criação de conteúdo com impactos emocionais diários e constantes. Esses impactos acontecem também sem pandemia, mas, querendo ou não, a gente acessa menos. A vida é outra. A gente está sendo mais impactado agora, está mais sensível emocionalmente.
Hoje o meu trabalho é conseguir me manter emocionalmente saudável para gerar um diálogo com a minha comunidade. Uma demanda de trabalho muito grande que é por ativismo — Xongani Solidária (campanha que reverte o lucro da venda de alguns produtos para o Lar Maria e Sininha). Outro dia estava numa campanha porque [a rapper e ativista indígena] Katú Mirim queria comprar um tablet para a filha, liguei para um monte de gente, e eu queria que isso desse certo. Trabalho voluntário aumentou muito. Sempre fiz, mas o voluntariado aumentou demais nesse período. Tem que ter uma sensibilidade muito grande. Não dá para fazer uma entrega de marca no dia em que a internet está falando sobre genocídio. Tem toda uma negociação, uma matemática. Isso gera mais trabalho também. Por exemplo: no dia da morte do George Floyd, eu tinha vários trabalhos. E eu negociei todos eles. E aí eu fiquei pensando, até falei isso nos meus stories: "Como é isso a longo prazo?". Porque para o criador branco, cara: é job, vem job, eu faço, entrego. Tem que sorrir? Tem que trocar de roupa? Tem que colocar maquiagem? Tem que falar não sei o quê? Tem que fazer uma skincarezinha? E, para a gente, que tem que fazer tudo isso e ainda articular com uma agenda de sensibilidade da nossa própria comunidade, é um desafio.
Converso muito com os Xongs (seus seguidores). Preciso sempre entender como eles estão para receber o meu conteúdo. Senão, minha filha, pode gerar uma leitura muito equivocada sobre mim. Estou tentando todo dia achar o ponto certo.
Falando nisso, as marcas querem se mostrar diversas, antirracistas, mas a gente volta e meia vê equívocos. Que dificuldades você encontra na hora de fazer esse trabalho?
Olha, muitas, muitas (suspira). Digo muito mais não do que sim. Acho que não existe hoje nenhuma marca de fato isenta do racismo. Nenhuma. Nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Então, usei como critério trabalhar com as empresas que estão se propondo a gerar mudanças, externas e internas. Nada garante, porque, por exemplo: pode acontecer de durante o processo do trabalho as marcas se mostrarem racistas, e eu não posso continuar com elas. Ou pelo menos não posso continuar sem me pronunciar. E também sei que a minha imagem hoje credibiliza as marcas, porque a minha comunidade sabe que faço uma avaliação bem específica com quem vou trabalhar, sabendo que do dia que eu aceito o trabalho até o dia seguinte eu não posso mais garantir nada, tudo pode acontecer com essa empresa. Então eu e a Mari (sua assessora), a gente tem sempre que se cercar sob vários aspectos.
Vou te dar um exemplo: Tag Livros me convidou para fazer uma leitura. Estava lendo o livro lá, no meio dele eu falei assim: "Cara, esse livro é racista. E agora?". Marcamos uma reunião, eu disse: "Olha, eu posso continuar, mas, na segunda live, não dá para omitir essa informação. Vou ter que falar." A marca podia dizer "não", e aí a gente ia ter que romper com o trabalho, mas ela foi incrível, disse: "Não, beleza, pode falar." Eu tinha até uma entrega que era uma foto segurando o livro, eles trocaram. Uma série de negociações. Preciso trabalhar com empresas que estejam abertas a essa negociação.
No dia do assassinato do João [Pedro, adolescente de 14 anos morto dentro de casa durante uma incursão policial em São Gonçalo, em 18 de maio], eu tinha entrega com a Salon Line. Eu disse: "Não dá, não dá." As marcas também precisam ter uma flexibilidade para entender que esses abalos acontecem para mim e para a minha comunidade e que, se elas forem racistas no meio do caminho, eu não vou continuar. Porque, se elas querem de fato eu que as credibilize, precisa ser de verdade.
Meu sonho é trabalhar com as marcas mais não racistas do Brasil. Elas não existem ainda. Então, mudei o sonho: hoje, é trabalhar com as marcas que estão dispostas a mudar. E uma coisa que a gente gosta muito de negociar com as marcas com as quais eu estou trabalhando, principalmente quando é um trabalho longo, é conversa com os funcionários criativos de comunicação. Nas empresas que têm muitas agências, a gente pede para chamar um de cada agência e um dia fazer uma roda de conversa, online ou não, não precisa publicar, e eu gosto muito de falar sobre isso, porque acho que faz muita diferença.
Já empreguei muitas pessoas nesse caminho. Porque: "Ai, Ana Paula, a gente ouviu e agora a gente agora quer ter criadores de marketing pretos. Indica nomes?". Ou: "Ah, a gente faz um vídeo de culinária com mãozinha e percebeu que não tem mãozinha preta, indica uma cozinheira preta?".
O ativismo tem diversas formas de ser feito. Uma delas é impactar os indivíduos. E eu gosto dessa. Gosto muito. Claro, tem a comunidade, tem os Xongs. Mas feliz mesmo é quando vou nas empresas, nas escolas
O seu trabalho inclui uma consultoria, para não ter problema, certo?
É uma consultoria remunerada. É uma coisa que amo fazer. A Salon Line sacou isso rápido. "Vocês já vão me contratar, já vou ser embaixadora. Aproveita, gente, vamos colocar já nesse contrato as costurinhas, eu posso contribuir para as campanhas." Se você reparar, a Salon Line é a única dessa área com quem trabalho constantemente. Sou embaixadora, ganho o meu salário mensal. Até brinco com eles: "Em vez de vocês ficarem me chamando para ir numa feira de beleza, me chama para reunião de comunicação. Vai dar certo. Eu posso contribuir." Isso é uma coisa que eu quero fazer um post sobre.
As empresas precisam ter várias pessoas pretas na comunicação, não é só uma. Estou pensando nisso faz uns dias. Fico pensando nos brancos: quando eles vão fazer uma campanha, não pegam vários brancos para debater, chegar num conflito de ideias e tirar uma ideia comum? Então tem que ter vários pretos também, para debater, chegar num conflito de ideias e tirar uma ideia comum. Aí eles chamam um e dá errado. Porque aí tem isso: "Ai, mas é que a gente chamou um cara negro?". Tá, e daí? A ideia dele é péssima. A minha ideia pode ser péssima, inclusive. Eu preciso de conflito também. Gosto muito de trabalhar com empresas que me entendam não só como uma criadora na internet, mas também interna, da pré-campanha, da campanha. Eles deviam ver os criadores, principalmente os pretos, assim: não só como quem entrega, mas como quem constrói junto deles. Eles já estão pagando, principalmente quando são contratos anuais. Faz um contrato que englobe isso — claro, o criador vai cobrar por isso também, tá? — e vocês vão acertar muito mais.
E você acaba deixando de ganhar dinheiro, fazendo esse filtro e essa exigência de discutir tudo, não é?
Sim. Sabe o que eu estou para te falar, um pouco, sobre a construção do imaginário? Eu estava revendo um vídeo, que foi o que me deu ideia para o post. Meu novo sonho é ter um programa de entrevistas. Estou fazendo um quadro de entrevistas na Salon Line e amei. Fiquei feliz demais e comecei a perceber que é isso, você sabe melhor que eu: a gente tem mulheres pretas entrevistando, mas são poucas ainda. Gostei desse lugar, de ditar as perguntas, de elas serem a partir do nosso olhar. Não aguento mais responder as mesmas coisas. Gosto quando me perguntam coisas diferentes. Mas é raro, né?
Fiquei pensando: se tem uma mulher negra perguntando, as perguntas vêm de outro lugar. Foi por isso que propus para a Salon Line fazer esse quadro. Aí eu estou muito focada nisso, com vontade de fazer, de ter esse programa. Mas, para falar sobre imaginário, é disso que eu falo no post, é que mulheres pretas não assumem na televisão um lugar de felicidade. Tenho um vídeo em que até falei de uma influenciadora branca, não vamos citar o nome dela aqui, que é uma mulher que vende felicidade. O texto é sobre isso. Quero ser uma pessoa feliz na internet. Cara, é muito difícil, mas eu quero muito isso. Aí fico sonhando com um programa em que falo só das coisas que me fazem feliz. E falar das coisas que me fazem feliz vai ser falar sobre negritude. Entrevistar as pessoas que gosto, comer as comidas que gosto, viajar para os lugares que gosto. As pessoas precisam pensar novas formas de falar sobre negritudes e pretitudes. Não pode ser só sobre a dor, sobre a violência. Não pode!
Eu não quero construir essa imagem. Por exemplo: não deixo minha filha ver os meus vídeos de ativismo. Porque eu não quero. Quero que ela cresça, ela é uma criança. Olha que loucura: eu quero que a minha filha veja pessoas pretas. Mas, se elas ocupam sempre um lugar de sofrimento, eu não posso apresentar isso para ela. Então a gente precisa criar imagens positivas para a gente ter ferramentas para apresentar para os nossos filhos. E, na televisão, a gente é carentérrimo dessas pessoas. Quem, hoje, tem um programa fixo que eu vou deixar minha filha assistir na TV? Fala uma pessoa. Não tem. Tem a Gaby Amarantos, no "Saia Justa", mas não é para a minha filha, não é um programa leve falando sobre felicidade. Quem mais?
Você fez ocupação do perfil de Instagram da Jout Jout. Como foi a experiência?
Recebi vários convites, para entrar em vários perfis, inclusive alguns muito maiores do que o da Julia, mas não queria entregar essa potência dessa discussão para uma pessoa que não tivesse práticas antirracistas anteriores. Para mim, não fazia sentido. Precisava ser alguém com quem eu me relacionasse. E a Julia é essa pessoa: ela é minha amiga e, antes disso, ela profissionalmente também foi muito impactante na minha carreira. E de práticas antirracistas que talvez ela nem lembre, mas eu lembro de todas.
A Julia tem discussões sobre branquitude, sobre política, sobre diversidade -- não só racial, mas outras -- muito importantes. Queria que fosse um lugar onde me sentisse segura e queria que fosse uma comunidade que estivesse disposta a um diálogo. Porque o dono do perfil reflete muito a sua comunidade: quem você traz para te seguir é muito parecido com quem você é. Ou pelo menos está naquela busca. E foi muito bom para mim, por vários aspectos. Primeiro, porque gosto de furar bolhas, e falar com outro público é muito importante. O público da Julia é claramente branco, mais jovem do que o meu -- a maioria do dela é de 18 a 25, e a minha maioria é de 25 a 35. E porque também tinha muitos assuntos sobre branquitude que eu não queria falar tanto no meu canal. Lá, eu preciso falar um equilíbrio entre assuntos de branquitude e de negritude, porque tenho uma comunidade diversa. E também não só sobre branquitude e negritude, mas pautas indígenas, ou maternidade.
No canal da Julia eu pude aplicar vários assuntos que tinha muita vontade de falar, mas que não cabiam no meu próprio canal, porque lá eu preciso também cuidar da minha comunidade preta. É uma prioridade. E foi incrível. A primeira coisa que eu fiz foi estabelecer um diálogo entre as pessoas brancas, porque eu acho que uma das coisas mais importantes para a pauta antirracista é as pessoas brancas se organizarem para serem antirracistas. De preferência entre si, porque a gente não pode assumir essa demanda. Então, quando eu trouxe a Lilia Schwarcz, que é uma historiadora, doutora da USP para conversar sobre branquitude, e eu ser mais a mediadora, a entrevistadora daquelas pessoas, foi meio que uma provocação, do tipo: "Conversem entre vocês, se organizem". A Julia foi incrível, ela falou: "Está aqui a chave do meu Instagram. Eu confio em você, faz o que você quiser e boa sorte. Espero que a família Jout Jout te receba bem. Tchau." E foi embora. Eu quis fazer três lives: para falar sobre branquitudes, indígenas, com a Katú Mirim, e pretitudes, com a Lua Xavier. Quis passar um pouco pelo assunto de raça. Queria três vozes falando sobre suas raças. Não é fácil falar sobre racismo todo dia, preciso me sentir preparada. Então, quando estava me sentindo bem para tocar nesse assunto, fui para os stories.
A gente viu que as experiências foram diversas: teve gente que perdeu seguidor, teve live com audiência baixa, mesmo em perfis com milhões de seguidores. Como foi para você?
Eu ganhei seguidores. Desde de que começaram essas ações, essa movimentação antirracista nas redes eu ganhei bastante seguidor (além da ocupação de perfis brancos por criadores negros, após a morte de George Floyd, diversos movimentos antirracistas incentivaram o público a seguir pessoas negras; no total, Xongani ganhou mais 7 mil inscritos no YouTube, totalizando 92,5 mil, e 40 mil no Instagram, totalizando 165 mil). Tenho um bloqueio mental que eu não acompanho muito os meus números. A Mari deve saber melhor que eu. Não é uma coisa que me faz bem. Consigo entrar no Instagram, fazer mil publicações e não gravar esse número. Mas, sim, eu ganhei seguidores e admiradores e agradecimento e reconhecimento sobre esse trabalho. Mas eu tive que entender também qual era o perfil dessa comunidade. O perfil deles é foto-textão. E eu adoro fazer um textão, então funciona muito bem lá. Teve engajamento na média do da Julia, que eu acho que era o que se pretendia, né? A Julia nunca fez uma live, então a gente não tem parâmetros, mas com posts a gente conseguiu o mesmo engajamento ou algo muito próximo. E isso é bom, fiquei feliz.
E também tem outra coisa que é importante: é um erro a gente achar — a gente conversou sobre isso — que só tem pessoas brancas seguindo pessoas brancas. Não é. É mentira. Tem pessoas diversas seguindo pessoas brancas. Eu tinha um objetivo muito explícito de atingir mulheres negras que estão no perfil da Julia. De me apresentar para elas. Porque quero que elas sigam, sim, uma mulher antirracista como a Julia. Mas quero também me apresentar, como uma mulher preta, como possibilidade para elas. Esse foi um estímulo muito, muito grande para mim: entender que a Julia tem uma comunidade muito legal. E, por ser legal, é diversa. E, por ser diversa, tem muitas pessoas que me interessam lá.
O que mais é importante para você no momento?
Eu estou com muitos sonhos. É muito sonho. É muita vontade de fazer. Encontrei uma fórmula que, para mim, é muito confortável: falar sobre potências negras. Essa coisa da desconstrução é muito importante, mas a construção também é. Gosto muito de construir. Outro fim de semana eu fiquei um tempo assistindo as minhas coisas, desde as primeiras entrevistas, os primeiros programas que apresentei na internet e tal. Meu companheiro até falou: "Nossa, você já fez coisa, né?". Eu falei: "Pô, eu até me perdi, quanta coisa eu já fiz."
Estou segurando a ansiedade, que eu estou com muita vontade. Eu tenho ideia de três programas por dia, cinco vídeos por segundo e de postagem, cursos que eu quero ministrar... Muitas ideias. Porque tenho uma sede, uma fome de construir positividades. Construir a imagem preta positiva.
Tem uma coisa que eu venho pensando e falando nos últimos tempos: as nossas violências são muito parecidas. A dor que eu sinto, uma mulher negra, um homem negro sente também. Mas os recursos que a gente usa para continuar seguindo, para continuar sendo potência são diversos. Cada família pensou em um. Cada pessoa usa um recurso. Tem gente que usa o recurso de gritar, tem gente que usa o recurso de ficar em silêncio, tem gente que faz meditação, que vai para a rua, faz coisas na internet. Tem famílias que falam: "Eu vou ser duro, para você estar preparado para essa dureza da vida", e isso, sim, é uma forma de amor. E tem gente que fala: "Não, eu vou te dar todo o afeto do mundo, para, quando você sair, lembrar que tem afeto em casa." Cada ser preto sofre as mesmas violências, mas cada um cria a sua própria potência para superá-las. E eu entendi a minha. Ou pelo menos a que eu acho que é a do momento: construir imaginário positivo.



















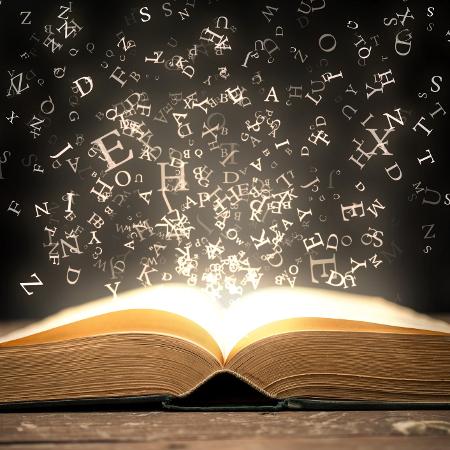


ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.