Entre hipermedicalização da vida e dos problemas sociais, há um ser humano

Um questionamento ético ronda o cotidiano de profissionais de saúde, especialmente médicas e médicos. O avanço da ciência trouxe consigo o alívio para dores antigas e a cura para tantas doenças que antes significavam morte ou grande sofrimento.
Remédios e procedimentos que trazem melhora importante da qualidade de vida vieram e se popularizaram, graças à melhoria do acesso da população aos serviços de saúde, e isso é inegavelmente bom. Contudo, o passar dos anos e o aprimoramento técnico demandou de nós uma habilidade ética e uma capacidade de enxergar, além do paciente que sofre, a sociedade e seu contexto econômico e cultural, que frequentemente geram adoecimentos.
Infelizmente, como médicos e médicas não fomos formados para estas habilidades.
Incapazes de enxergar o contexto adoecedor ou enxergando-o mas insensíveis ou impotentes diante dele, iniciamos uma saga infinita, infundada e infrutífera de corrigir os indivíduos, sem questionar o quê lhes adoece.
Assim, remédios que matam vermes foram alçados a categoria de solução para a ausência de saneamento básico. Analgésicos e anti-inflamatórios passaram a ser recurso para a hiperexploração de trabalhadores em condições precárias e com salários miseráveis.
Suplementos vitamínicos se tornaram a suposta segurança de quem viu passar muito longe a soberania alimentar e antidepressivos chegaram como anestésicos para uma vida mergulhada em violência machista, racista e econômica.
As pílulas para atenção e concentração que prometem legítima melhora do desempenho para pessoas com transtornos reais de aprendizado, nas mãos de concurseiros e universitários passaram a ser condição para o sucesso. Em muitos grupos, usar essas substâncias se tornou algo tão comum que quem não usa se sente em real desvantagem. E assim criamos quase que uma nova categoria do humano. Os supereficientes. Parecia mais fácil do que universalizar o acesso à educação.
Para nós, profissionais que prescrevemos as substâncias com a legítima intenção de aliviar a dor, o sofrimento ou os riscos de quem nos pede ajuda, há um dilema ético que nos acompanha ou deveria nos acompanhar: responsabilizar o indivíduo e medicá-lo, quando seu adoecimento é uma reação perfeitamente legítima e até saudável ao que ele vive no cotidiano é correto? Ou será que isso deveria nos fazer questionar nossos papéis?
Uma mulher que perde seu filho para a violência brutal do Estado precisa de democracia e não de sertralina. Mas e seu sofrimento agudo que nos chega? Como não querer amenizá-lo?
Ao mesmo tempo, como não nos tornar um tipo mais sofisticado de traficante de drogas que atua dentro da lei, porém sob a mesma lógica de oferecer um alívio momentâneo, fugaz e muito pouco efetivo quando se avalia a transformação da realidade ou da causa do adoecimento?
Há um equilíbrio frágil entre a hipermedicalização desenfreada de todo e qualquer sintoma, dor ou sofrimento e a medicalização que resgata vidas, que ampara, ao mesmo tempo que chama à responsabilidade e ao protagonismo.
O remédio para emagrecer não deveria jamais substituir a falta de tempo para o lazer, consequência de uma jornada de trabalho sobre-humana. Os comprimidos para compulsão alimentar não deveriam se prestar ao papel de remendar uma realidade em que produtos ultraprocessados são oferecidos em cantinas de escolas e em propagandas direcionadas às crianças. Todavia, há consequências que afetam indivíduos em todos esses processos. Eles nos procuram com esperança. Eles também acreditam que pequenas porções mágicas lhes ajudarão a resolver seus problemas.
Nesta realidade complexa, qual é a nossa missão? Quais soluções igualmente complexas deveremos buscar como profissionais e também como cidadãos nesta sociedade? O que mais além do alívio fulgaz temos a oferecer? Quais reflexões estamos nos propondo a fazer e até que ponto estamos dispostos a questionar nosso papel?
Hoje, tenho só perguntas.










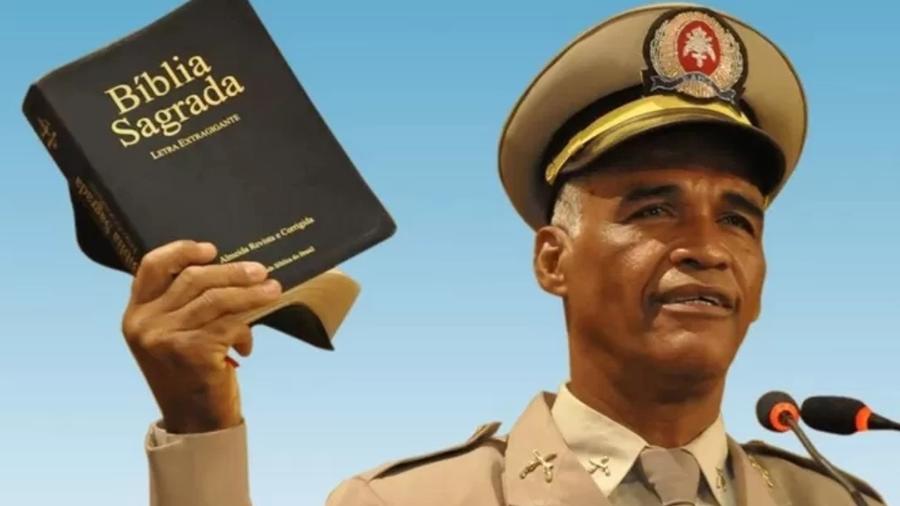





ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.