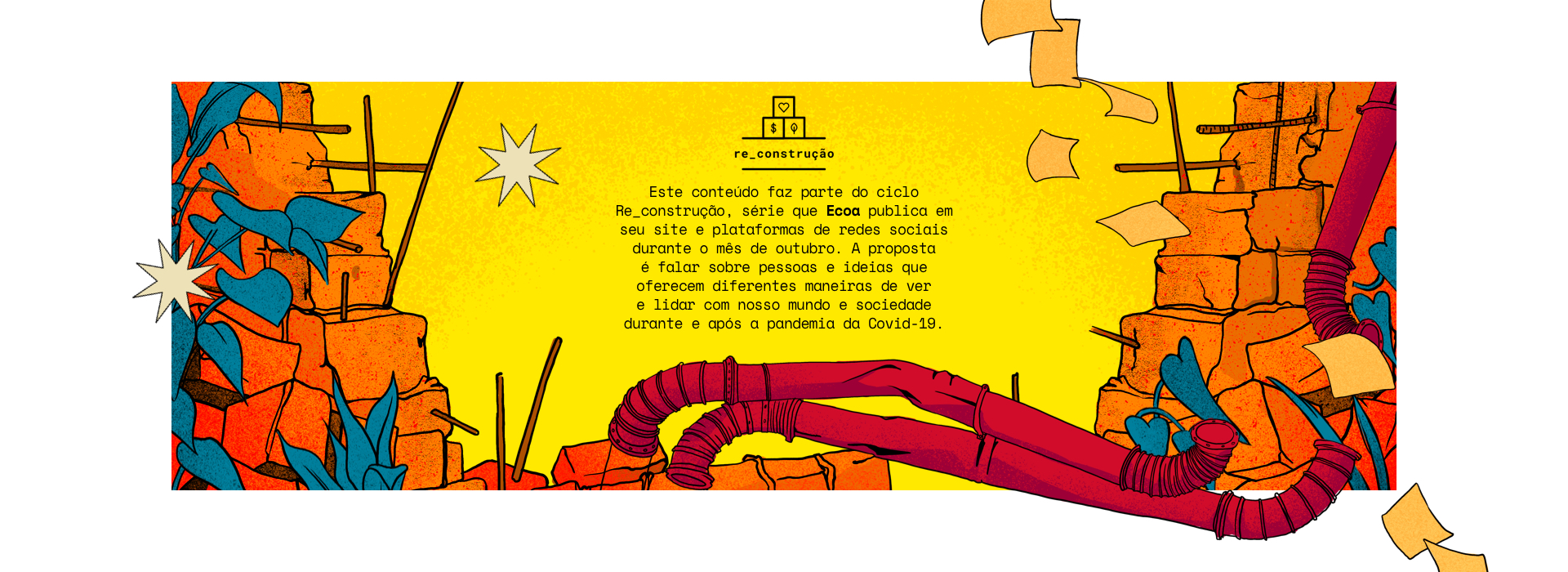"Se não fosse a Marinha, eu nem sei se estaria viva, hoje, com 40 anos. Tive uma ruptura familiar muito precoce e enxerguei nas Forças Armadas uma oportunidade de sair de um ambiente extremamente desconfortável. A Marinha me possibilitou mudar de cidade, recomeçar, e ter minha estabilidade financeira. Ao mesmo tempo, paguei um preço caro por tudo isso: abri mão de ser quem eu era por quase 10 anos".
Bruna Benevides mudou-se para o Rio de Janeiro aos 18, deixando para trás a infância e a adolescência, o ambiente desconfortável e repressor em que vivia dentro da própria casa dos pais em Fortaleza (CE). Aqueles últimos anos, de alguma maneira, deram a ela a coragem necessária para ingressar no serviço militar, com pré-requisitos e papéis que deveria cumprir à risca.
"Desde pequena tinha plena consciência de que não era uma pessoa cisgênero [que se identifica com o sexo de nascença], não me via como um menino. Lembro que com cinco anos era reprimida pelo meu jeito de sentar, de falar e de andar. E eu não entendia: 'O que estou fazendo de errado?'. Pra mim, tudo era muito natural", relembra. Ao longo dos anos, Bruna foi percebendo que as pessoas a viam de uma forma diferente, e isso provocava situações de muito estresse e tentativas de negação de sua própria subjetividade. Já na adolescência, rendeu-se, então, aos padrões impostos, mesmo que aquilo ferisse sua identidade de gênero.
"Sentia que era impossível ser lida como uma mulher pela sociedade, principalmente pela realidade em que me encontrava, morando com pais extremamente religiosos. Era impossível, naquela época, pra mim, viver como uma mulher trans dentro e fora de casa".
Foi só no Rio de Janeiro que ela passou a se sentir minimamente segura para viver em liberdade. Ainda que de maneira limitada. "Era como se fosse uma vida dupla, eu só deixava de ser Bruna no ambiente de trabalho". Em 2008, com mais de 10 anos de serviço prestado, já segunda-sargento da Marinha, a militar conhece Bianca Figueira - capitã que declara publicamente sua condição enquanto mulher trans dentro das Forças Armadas. Três anos depois, Bruna faz o mesmo.
"Não conseguia mais. Não estava mais disposta a negociar a minha identidade em troca de salário, de posição social e de uma tentativa de agradar a minha família".
De início, houve acolhimento. Mas, logo depois, começou um processo de patologização. A Marinha seguiu uma estrutura comum à sociedade: exclusão de corpos de pessoas trans em qualquer espaço em que elas fujam do esperado. "Fui dada como uma pessoa incapaz para o serviço militar, portadora de 'transexualismo'. Um transtorno mental, mas que não me impunha nenhuma restrição. Ou seja, eu estava saudável e completamente capaz para trabalhar."
Em 2017, Bruna entrou com uma ação na Defensoria Púbica da União, reivindicando o direito de exercer a profissão. A primeira liminar, favorável, entendeu o afastamento compulsório como uma violação. Durante o processo, o Ministério Público Federal baixou ainda uma recomendação que proíbe as Forças Armadas de afastar pessoas trans.
"Hoje, continuo no quadro da Força. Não fui reformada, mas estou num limbo administrativo. Sou uma militar na ativa, mas a justificava para me manter afastada é: 'Qual uniforme ela vai usar? Qual alojamento ela vai ficar? Existe uma resistência em me reconhecer enquanto uma mulher, mesmo com toda a minha documentação retificada, mesmo eu sendo uma mulher do sexo feminino reconhecido pelo Estado brasileiro."