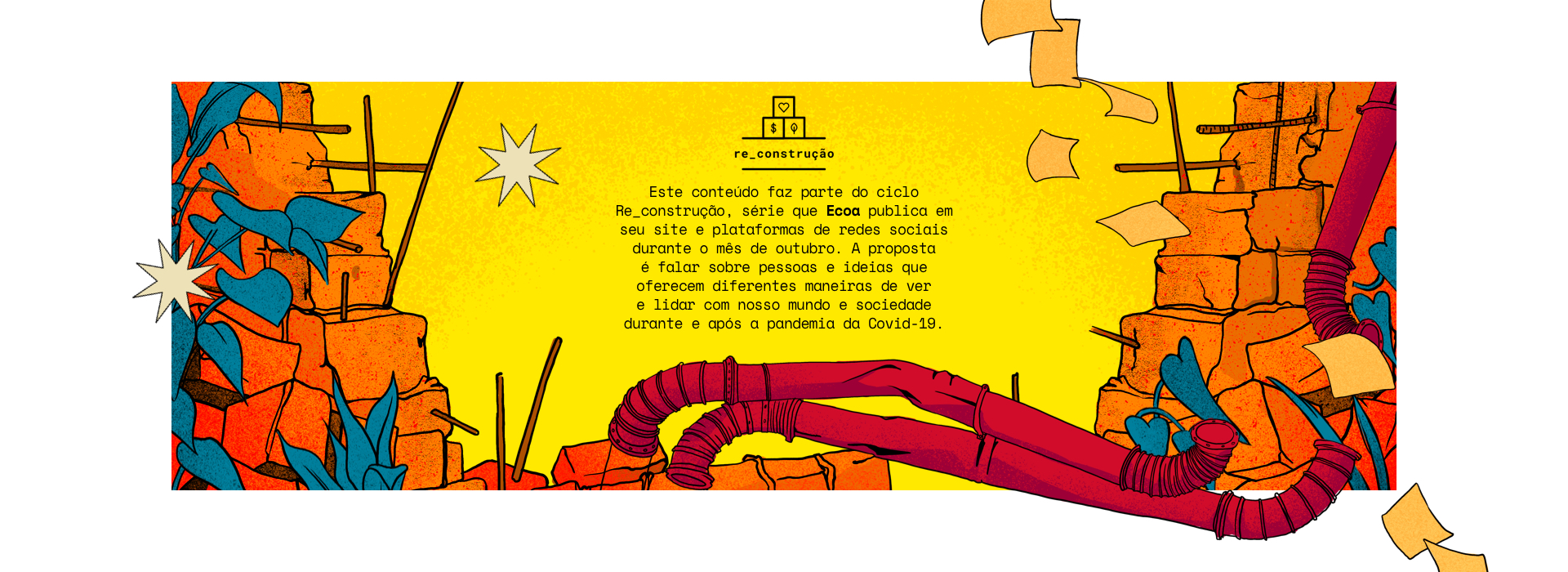Mudei minha opção de curso na universidade. Fui de Direito para Serviço Social. A ideia, no início, era só a de ajudar minha mãe, criadora de um abrigo para crianças abandonadas no extremo sul de São Paulo.
Ao longo dos anos fui entendendo: minha mãe não fazia caridade. Ela promovia direitos. E foi isso que me encantou para continuar a ajudar crianças e adolescentes: vê-los como cidadãos, vê-los exercendo uma cidadania que nunca lhes foi dada.
Minha espiritualidade é "tudo junto e separado" com meu trabalho. É a religiosidade que me fortalece. E é meu dever falar e apresentar meu orixá. É meu dever tentar reconstruir famílias desorganizadas e acolher quem me pede força.
Fico feliz de saber que sou uma pessoa que pode denunciar, que vai estar onde estou, falar o que eu falo para as autoridades. Com certeza, é Oya quem me conduz.