Histórias reais ilustram a evolução no tratamento da Aids
A prevenção é o principal gargalo no Brasil para a redução dos números de casos registrados anualmente no Brasil. Trinta e sete anos após ter feito o primeiro diagnóstico de Aids no Brasil, a dermatologista Valéria Petri, da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), afirma que a confiança de que "isso não vai acontecer comigo" é um dos motivos para que os números de infectados ainda não tenham sido reduzidos País.
"Ao mesmo tempo em que as pessoas receiam ser infectadas pelo HIV, elas não querem deixar de ter uma vida sexual mais livre e espontânea. O brasileiro é infantil em muitos aspectos da vida, especialmente o sexual. No geral, as mulheres acreditam que não vão se infectar porque estão apaixonadas e os homens acham que são invulneráveis", afirma Valéria. Aliado a isto, a médica pontua a visão vulgarizada da sexualidade por boa parte da população e a forma como a informação sobre o assunto chega aos adolescentes e jovens adultos.
Para o médico infectologista do Hospital Israelita Albert Einstein, Luís Fernando Aranha, a discussão sobre HIV-Aids não é responsabilidade apenas do poder público e deve envolver as famílias, escolas e outros agentes, uma vez que está relacionada a questões de identidade, entendimento, valorização do corpo, das vontades e sentimentos. "O poder público tem feito uma série de campanhas, mas o que não sabemos é a como estas informações estão chegando e sendo absorvidas pelos adolescentes".
A Agência Einstein conversou com duas pessoas infectadas. Silvia, há 28 anos. Lucas, há seis. Conheça as semelhanças, as diferenças e as esperanças divididas por eles, mesmo separados por 22 anos entre um diagnóstico e outro.
Silvia Almeida, 55 anos, aposentada. Vive com o HIV há 28 anos
O diagnóstico
Silvia Almeida tem 55 anos e é aposentada. Casou-se aos 18 anos com o primeiro namorado, quatro anos mais velho. Era 1981, o HIV era um vírus desconhecido e a Aids, uma doença misteriosa, ainda sem nenhum caso diagnosticado no Brasil. "Não se falava sobre isso naquela época", lembra. Doze anos mais tarde, seu marido adoeceu. Começou a perder peso, teve pancreatite e problema de circulação. Uma doença era seguida da outra e ele nunca se recuperava. A suspeita de que ele estava com Aids veio da sogra da Silvia, enfermeira que trabalhava em um dos novos postos de saúde que atendiam pessoas com HIV-Aids. "Imagine o desespero dela ao perceber que os sintomas eram idênticos aos das pessoas que ela atendia no trabalho", conta. O marido de Silvia fez o teste no fim de 1993, três meses depois veio o resultado: positivo. "Ele já tinha desenvolvido a doença e o médico pediu que eu e meu filho mais novo, que na época tinha 2 anos, também fizéssemos o exame."
"Naquela época, tudo demorava. As consultas, os exames, os resultados. Era angustiante. E uma das poucas coisas que sabíamos sobre o assunto é que não estávamos no grupo de risco. Formávamos um casal hétero". Foram semanas sem dormir até a chegada do resultado, no começo de 1994. No consultório, a médica disse que tinha duas notícias: uma boa e uma ruim. "A boa era que meu filho não tinha sido infectado. E eu digo que essa foi a minha primeira vitória na luta contra a Aids e, embora eu tivesse contraído o vírus, eu não estava adoecida, eu tinha uma boa imunidade".
Silvia não teve tempo para entender como o vírus entrou na sua família. A cada dia, seu marido ficava pior. "Nos gostávamos muito, nos dávamos muito bem e éramos felizes. E a primeira coisa que eu percebi foi a dor e o sofrimento dele por ter nos feito passar por isso. Ele poderia ter sido infectado antes do casamento. Casamos jovens. E eu comecei a entender o machismo: homens são criados para terem mais de uma relação. As mulheres eram educadas para ter um marido só, para casarem virgens. Eu tive a sensibilidade de entender que ele também não entendia o que tinha acontecido, de perceber o sofrimento dele por não saber que podia perder os filhos. Ele estava murchando. E se eu o culpasse, teria de culpar a mim mesma porque eu era a mulher dele, eu dormia na mesma cama que ele, nós não usávamos camisinha. Ninguém usava naquela época", diz.
O período entre o diagnóstico e a morte do marido, em julho de 1996, foi o mais difícil. "Foi tudo muito rápido e não existia um remédio para salvá-lo. A fase terminal foi muito triste, fiquei mal. Eu estava com medo de adoecer, de não poder cuidar dos meus filhos e de reviver todo aquele terror. Perdi o apetite e comecei a emagrecer, mas não era por conta do HIV".
Aprendendo a viver com o HIV e ajudando outras pessoas a fazerem o mesmo
Silvia estava na lista das primeiras mulheres diagnosticadas com HIV no Brasil, mas ao contrário da maioria delas, teve suporte da família e da empresa na qual trabalhava (uma multinacional sul-africana). Sua história foi mantida em sigilo e ela tinha liberação para acompanhar o marido nas últimas consultas. Ao mesmo tempo em que perdia o marido, teve a chance de impedir que o vírus tomasse conta do seu corpo. Com a ajuda da empresa, teve acesso a medicamentos para gerenciar o HIV e apoio psicológico. "Eram remédios que tinham acabado de ser lançados nos Estados Unidos e não eram oferecidos por aqui", lembra.
"Ela teve um olhar muito inteligente e fez com que eu focasse a terapia em mim, em quem eu era, nos meus sonhos. E então eu passei a me ver como uma pessoa e não mais como um vírus ou uma doença". Em paralelo, passou a frequentar as reuniões promovidas pelo Grupo de Incentivo à Vida (GIV), em São Paulo. Foi então que a ficha caiu.
"Passei a conhecer pessoas que tinham o HIV há mais tempo e já sabiam lidar com isso. Na época, os frequentadores eram majoritariamente gays, mas estavam começando a aparecer mulheres. Foi a época que chamamos de feminização do HIV/Aids. Nas reuniões comecei a perceber que tudo era diferente comigo. Por trinta anos trabalhei em uma empresa que respeitava a mim e minha doença, eu tinha acesso a medicamentos que sequer eram imaginados no Brasil. Eu tive uma história linda de amor. A maioria das pessoas não tinha isso. Comecei a ficar angustiada e a me perguntar: por que eu tenho que me esconder e sofrer sendo que todo mundo faz sexo nesse mundo?"
As primeiras entrevistas de Silvia sobre o assunto foram em 1999, com voz distorcida e sem mostrar o rosto. A partir de 2001 começou a falar seu nome e mostrar seu rosto para quem quisesse ver e de forma natural se tornou uma ativista. "Ainda hoje HIV-Aids é uma doença nova e acompanhada de um contexto moral muito pesado. Eu sofri um pouco de preconceito porque não recriminei meu marido. Mas quem é que sai na rua para se infectar? Quem sai na rua para ser atingido por uma bala perdida?",
O que precisamos discutir?
"A informações que temos ainda hoje sobre HIV-Aids são muito rasas. Só entende de verdade o que é quem vive ou convive com o vírus ou a doença. A maioria das pessoas ainda acha que se pegou Aids vai morrer". O número de pessoas infectadas continua alto porque, simplesmente, as crianças crescem, sentem tesão e transam, mas não conhecem o próprio corpo, não aprenderam sobre autovalorização e sabem quase nada sobre prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis. Não acho que os jovens se infectam porque nunca viram a cara da Aids, porque não viram pessoas morrendo como eu vi. Eles se infectam porque são jovens, porque estão com os hormônios a flor da pele. Eles se infectam porque o que dizem para eles é que se não usar camisinha vai morrer, porque os pais não conversam com os filhos, porque na escola mostram aquelas fotos horrorosas de feridas no pênis, na vagina para assustar e não educar. O que falta é a consciência que a sexualidade nasce e morre com a gente e ela vai nos levar a ter alguns encontros, algumas relações afetivas e sexuais e que temos que pensar em como viver com essas possibilidades de forma saudável. A conversa deve começar antes de os jovens iniciarem a vida sexual. É preciso que desvincular ações de saúde do moralismo".
Receber a notícia 28 anos atrás foi mais difícil do que é hoje?
"Se você olhar de uma forma cientifica, é mais fácil hoje que 30 anos atrás porque a partir do momento que o resultado é positivo, você já tem acesso aos medicamentos que vão barrar a progressão do vírus no organismo. Isso é um avanço imenso na medicina. Então, hoje é mais fácil saber que está infectado. Na minha época, as pessoas descobriam quando já estavam muito doentes e não existiam remédios. O resultado do exame era uma sentença de morte. Porém, questões de gênero e estigmas ainda são complicadas nos dias de hoje. O preconceito ainda é grande. O vírus ainda está associado à promiscuidade, à falta de cuidado, ao gênero".
Lucas Raniel, publicitário, 27 anos. Vive com o HIV há 6 anos
Lucas Raniel tinha 20 anos quando descobriu que vive com HIV. O diagnóstico ocorreu quase um ano depois dele ter sido infectado por um homem que ele conheceu em um aplicativo de relacionamentos gay com quem trocou poucas mensagens durante uma festa da faculdade em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, onde cursava Publicidade. "Eu tinha bebido muito e usado todos os tipos de droga que você puder imaginar. No meio dessa loucura, entrei no app e iniciamos a conversa. O homem mandou um taxi para me buscar. Ao chegar no apartamento, trocamos um ou dois beijos, no máximo. Bebemos e usamos mais drogas. Eu só lembro dele me carregando até o quarto. E apaguei", conta.
Ao acordar, quatro horas depois, Lucas sentia dor no ânus. Ainda confuso, perguntou o que tinha acontecido. Não teve resposta. "O homem pediu outro taxi para me levar embora. Não sei o nome dele, nem onde mora. Eu estava vulnerável e fui estuprado. A gente nunca acha que vai acontecer com a gente", diz Lucas. A desconfiança de que algo tinha dado errado no encontro veio dias depois, com o aparecimento de uma ferida no ânus. Inicialmente, pensou tratar-se de hemorroidas e fez uso de pomada para essa finalidade. Mas, desconfiado, marcou consulta com proctologista (médico especializado em doenças do intestino grosso, reto e ânus). Neste meio tempo, tentou localizar o homem no aplicativo e foi bloqueado após mandar a primeira mensagem. "Eu tinha tido poucas relações sexuais antes dele e foram com preservativo".
"Ao me examinar, o médico me disse que não se parecia com hemorroidas. Pediu uma série de exames de IST, entre eles o de HIV. Na hora eu dei dois passos para trás e pensei: isso nunca vai acontecer comigo, sou uma pessoa instruída", lembra. Mesmo assim, avisou sua mãe para que ela ficasse se sobreaviso. No retorno ao consultório, em dezembro de 2013, foi informado pelo médico que o exame de HIV tinha dado positivo e que seria encaminhado a um infectologista. "Ele falou com a maior naturalidade, que é como tem que ser, mas eu não estava preparado para receber esta informação. Fiquei passado. Saí tonto do consultório", diz. Já na rua, Lucas ligou para mãe. Aos prantos, contou que tem HIV e ia morrer. Enquanto a mãe tentava confortá-lo, parou no meio da rua - uma ladeira — enquanto descia um caminhão. "Ele buzinou e minha mãe ouviu. Ela disse para eu não fazer nenhuma bobagem e eu voltei para a calçada. Eu queria me matar".
Acompanhado do pai, Lucas fez o teste de confirmação em uma unidade de saúde pública. Avisou suas três melhores amigas e aguardou o início do tratamento, que começou em abril de 2014. "Não quis pensar em HIV e nem em ficar com alguém até chegarem os remédios. Mas quando eles chegaram, veio tudo como um turbilhão. Eu tinha que ter uma rotina, não podia de esquecer um dia, precisava entender o que eram e como funcionavam", diz. O jovem leu as bulas, fez pesquisas na internet para entender as reações e os efeitos colaterais e encontrou pouca informação que fizesse sentido para ele. "A maioria das coisas que encontramos na internet são muito técnicas ou para botar medo. É cazuza, Freddie Mercury, morte. Por isso, com o tempo passei a sentir a necessidade de falar sobre o assunto".
Lucas passou a contar que tem HIV aos amigos mais próximos e pessoas com quem se relacionava. "Apesar de minha carga viral ser indetectável e incapaz de infectar alguém, acho que as pessoas com quem eu saia tinham direito de saber. A maioria se afastava imediatamente. Outras diziam que estava tudo bem, mas em seguida pulavam fora", conta. Até que em 2015, quase dois anos após a descoberta, em um app de encontros gay, recebeu uma imagem de uma conversa de um grupo criado no WhatsApp com a foto dele e um texto que dizia: gays de Ribeirão Preto, fiquem atentos porque este menino tem Aids e está infectando todo mundo. "Fiquei muito triste porque aí passei a perceber que quando chegava nos lugares as pessoas me olhavam com medo, repulsa e dó".
Lucas teve depressão, pediu licença no trabalho e mudou-se para a casa da mãe, na cidade de Colina, também interior de São Paulo. Passou em consultas com psiquiatra e psicóloga, que o ajudaram a lidar com o HIV. Ganhou autoconfiança e em dezembro de 2015 — exatos dois anos após abrir o exame e descobrir que tem HIV — fez uma postagem aberta em uma rede social contando o que estava vivendo. "Eu não queria mais as pessoas falando de mim pelas costas. Se alguém tinha que falar era eu". A publicação fez barulho em Ribeirão Preto e Lucas foi chamado por jornais e revistas locais para falar sobre o assunto, o número de seguidores cresceu vertiginosamente e suas caixas de mensagens lotaram de perguntas sobre o assunto.
Decidido a ajudar pessoas a entenderem mais sobre a HIV-Aids, sem preconceitos, mudou-se para São Paulo em março de 2018. "Eu achava que sabia tudo, que não precisava me preocupar, que tinha informação e descobri que não tinha. Assim como eu, a maioria dos jovens não sabem nada sobre IST, sobre prevenção, sobre cuidado com corpo. Precisamos falar sobre isso".
O que precisamos discutir?
"Os jovens se infectam porque são jovens. Eles se infectam porque pensam igual a mim quando tinha 20 anos de idade e ia em festas, bebia e usava drogas. Eles acham que não vai acontecer com eles, se colocam em situações de risco, ficam vulneráveis. E os jovens foram vulneráveis nas décadas de 1980, 1990, 2000 e vão continuar sendo vulneráveis em 2050, 2100".
"Vemos muitas campanhas, especialmente em datas especificas, mas elas servem mais para assustar a população e impor o uso da camisinha do que para informar. Falta mostrar para a população que a prevenção é importante, mas que HIV-Aids não é uma sentença de morte, que hoje existe a Profilaxia Pós-Exposição (PEP), que é o uso de medicamentos antirretrovirais após possível contato com o HIV em situações de risco. Se eu soubesse disso, talvez não tivesse que viver com o HIV. Também precisa ser falado sobre Profilaxia Pré-Exposição, que não é para todo mundo ainda, mas que é uma alternativa que tem que ser conhecida para acabar com esse terrorismo".
Receber a notícia hoje é mais fácil que no começo da epidemia?
"É mais difícil conviver com a sociedade do que viver com o HIV. Tratar o HIV em 2019 é fácil, mas não acho que receber a notícia hoje seja muito diferente de 40 anos atrás. Digo isso porque ainda hoje muitas pessoas não têm informação sobre o assunto, o preconceito ainda existe e cada um recebe a notícia de uma forma. E isso tem muito a ver com todo o contexto de vida dessa pessoa: quem ela é, a que tipo de informações ela teve acesso, quem são as pessoas com quem ela se relaciona".
Podcasts do UOL
Ouça o podcast Maratona, em que especialistas e corredores falam sobre corrida. Os podcasts do UOL estão disponíveis em uol.com.br/podcasts, no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de áudio.
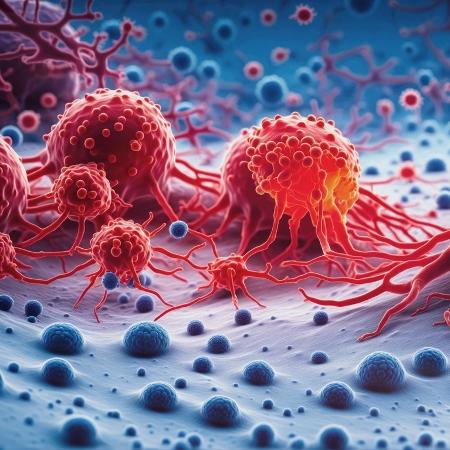











ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.