Covid-19 em SP: por que o vírus volta, na calada, a surfar na primeira onda

Receba os novos posts desta coluna no seu e-mail
Chamou a atenção dos médicos a cara de seus novos pacientes internados nos hospitais paulistanos com sintomas agudos de dificuldades respiratórias. Eram rostos jovens ou, ao menos, bem mais jovens, em média, do que o das primeiras vítimas do Sars-CoV-2.
Quando eles começaram a dar entrada hospitalar em um fluxo mais intenso — e isso foi há umas quatro semanas —, o aumento nos registros de casos de covid-19 até que foi discreto, tão discreto que muita gente achou que tudo não passaria de uma marola. Mas essa onda subiu e continua subindo.
Até então, no contexto de uma pandemia, o período era de maior calmaria em São Paulo. Desde agosto, as internações por causa do novo coronavírus, depois de um longo tempo em um patamar lá nas alturas, pareciam estar em queda — talvez apenas caindo mais devagar do que todos nós gostaríamos. Mas, enfim, caindo. Em outubro, a capital apresentou o menor número de casos da série histórica, isto é, desde que começou a registrar as hospitalizações por covid-19.
"No entanto, nos últimos 15 dias, os hospitais de primeira linha na cidade, aqueles que atendem as classes A e B, começaram a ficar lotados", constata a infectologista Nancy Bellei, professora da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), pesquisadora de vírus respiratórios e consultora tanto da SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia) quanto da OPAS (Organização Panamericana de Saúde) quando o assunto é covid-19. "E quem são essas pessoas internadas agora? Especialmente jovens e gente na faixa dos 40, 50 anos de idade."
O crescimento das internações — observando que a onda nos hospitais particulares já começa a bater nos serviços públicos de saúde também — somado à mudança no perfil de pacientes leva ao inevitável zunzunzum. Será que o vírus então mudou, como desconfiam alguns europeus ao encarar a sua segunda onda? Aliás, seria esse o início de uma segunda onda em São Paulo? Estão nos escondendo algo tenebroso? E agora, os paulistanos correm o risco de ficarem trancafiados em casa de novo? São boas perguntas com respostas nem tão óbvias.
O vírus é o de sempre
Vamos começar os esclarecimentos por aí: "O Sars-CoV-2 sofre, em média, duas mutações por mês", informa Nancy Bellei. Isso lhe assusta? Pois saiba: é um nadica de nada. Por baixo, essa taxa é quatro vezes menor do que acontece com o vírus da gripe.
E, mais esta, lembre-se que o Sars-CoV-2 é um RNA-vírus, tipinho em que as mutações são pequenos erros em seu caminho na hora se replicar e não necessariamente uma adaptação terrível para nos infectar. Ou seja, são mutações que não conferem muita vantagem ao nosso inimigo.
"O novo coronavírus não ganhou nenhuma função diferente com as mutações que sofreu até o momento", assegura a professora. Ou seja, esqueça o papo, que andou circulando na mídia europeia, de que ele agora é transmitido com maior facilidade. É praticamente o mesmíssimo Sars-CoV-2 de sempre. Nós é que lhe demos sopa.
Mas que onda é essa?
"Não estamos na segunda onda ainda", vai logo avisando o médico Sérgio Cimerman, do Instituto de Infectologia Emílio Ribas e coordenador científico da SBI. Faz sentido. Segunda onda, em princípio, seria um aumento no número de casos, com mortes e internações, depois de um período feliz de estabilidade com registros de novas infecções lá embaixo. Ora, ora, nunca chegamos a esse ponto, vamos combinar? O vírus ainda surfa na primeiríssima onda.
Outra coisa: você não vai encontrar por aí alguém lhe definindo quanto a taxa de transmissão de uma infecção precisa despencar e por quanto tempo tudo precisa ficar assim, sob controle, em determinado lugar para daí apontar que uma nova subida seria o início da tal segunda onda. Não há definição rígida.
"Ainda mais agora, é difícil dizer. Cada epidemia tem um comportamento e estamos aprendendo o desta. Todas têm suas oscilações e só com o passar dos meses vamos entender o que elas significam", diz Renato Grinbaum, membro da SBI e infectologista da Rede D'Or São Luiz, onde também observou o aumento de infectados jovens — em condições que exigiram internação, deixa eu frisar. "O que temos, provavelmente, é o que nós, médicos, chamamos de recrudescimento dos casos, uma intensificação do que já existia", afirma ele. Portanto, é a mesma onda nos dando um caldo.
Mas, cá entre nós, no tocar do nosso dia a dia, o que interessa saber em que onda estamos? "Esse é conceito importado de pandemias anteriores, como as do influenza", lembra Nancy Bellei. "As pessoas ficam com medo porque escutam que, na gripe espanhola entre 1918 e 1919, a segunda onda foi muito mais terrível e matou mais gente do que a primeira. Mas vale lembrar que o vírus dessa gripe mudou bastante entre uma e outra e nada indica ser o caso do novo coronavírus."
Ou seja, o Sars-CoV 2 tende a continuar matando o mesmo de sempre, o que não é pouco — ou talvez matando menos, não porque ele em si tenha nos dado qualquer trégua, mas porque a medicina está aprendendo a tratar melhor os estragos que faz em nosso organismo. E, na verdade, enquanto não tivermos uma grande parte da população acometida — ou respondendo bem a uma vacina —, ele provocará a segunda, a terceira, a quarta onda... Só questão de tempo, dura realidade. Encare. Na prática, devemos nos cuidar do mesmo jeito em qualquer uma dessas ondas. E entre elas.
Por que voltou a aumentar
A resposta é simples: "Tivemos um período longo de isolamento social que, apesar das controvérsias e de ter sido caótico e imperfeito, evitou a sobrecarga do sistema de saúde", observa Renato Grinbaum. "Mas isso gerou segmentos mais abastados de pessoas que ainda não foram contaminadas."
Ou seja, estamos falando daquelas que puderam ficar em seu endereço, sem serem obrigadas a sair para trabalhar em serviços essenciais quando o circo começou a pegar fogo e que não viviam em casas com aglomeração de pessoas onde um saía e, na volta, contaminava todo o resto.
"E pesam ainda dois fatores", opina o médico. "O primeiro é o processo de reabertura da cidade, em que talvez áreas fechadas de lazer devessem ficar por último na fila. E, em segundo lugar, o cansaço das pessoas, que agora agem como se não houvesse mais pandemia."
Fique claro: nunca confunda diminuição no número de casos de covid-19 com fim de pandemia. Nem aqui, nem em canto algum. "O que estamos vendo na Europa, por exemplo, já era razoavelmente esperado", comenta Nancy Bellei. "O continente abriu suas portas em plenas férias de verão depois de um lockdown e os europeus logo começaram a circular, quase que partindo para outro extremo." Fato: o número de casos é tanto maior quanto maior a circulação das pessoas.
Lockdown ou finalmente aprender a se comportar na pandemia?
É até estranho pensar em um possível novo confinamento quando nem sequer o primeiro foi feito direito. Mas está na cara que não será possível. Não só porque ninguém aguenta mais ficar em casa, como pelo impacto à beira do insuportável em diversos setores da economia, sem falar no que representaria tudo isso para as escolas.
"A criança aprende a caminhar caindo. Não é ficando trancado em casa que alguém aprende a se comportar direito em uma pandemia", compara Nancy Bellei. O que ela quer dizer: em um primeiro momento, para a Saúde com letra maiúscula ter prazo para se organizar, o lockdown fez um tremendo sentido. Ninguém em sã consciência pode negar. No entanto, agora talvez seja mais importante as pessoas se cuidarem direito nas ruas, em seus escritórios, no lazer... "Afinal, não sabemos quando isso irá passar. Mesmo quando surgir uma vacina, não sabemos se funcionará para todos os grupos de risco, nem ela será distribuída depressa para toda a população, como alguns se iludem. E, enquanto isso, precisamos viver", me diz Nancy. Concordo.
Mas... Mas seguir vivendo é usar máscara, sim. É lavar as mãos com frequência quase neurótica, sim. Não dá para sair abraçando, não. Manter o distanciamento? Sempre. Criar aglomerações? Jamais. Está inclusive na hora de a gente aprender a olhar feio para quem passa pelo nosso caminho sem máscara, recusar certos convites e planejar um Natal menor, bem menor.
Não reclame: isso ainda é viver. "E precisamos aprender mesmo, porque outras pandemias virão, de gripe ou de outros coronavírus. Por exemplo, em uma próxima onda pra valer desta pandemia de agora, talvez a gente já não feche as escolas infantis. Isso porque crianças são menos susceptíveis à covid-19 do que adultos e talvez fechar escolas não tenha tanto impacto como se acredite", pondera a professora Nancy. Tudo é aprendizado.
Quando o coronavírus faz a festa. Ou melhor, quando ele vai à sua festa
Os médicos notam algo em comum nos doentes mais jovens que deram entrada nas últimas semanas nos hospitais paulistanos: a imensa maioria frequentou eventos privados. São jovens que foram a festas na casa de colegas, pessoas que participaram de almoços familiares ou de aniversários de amigos. "Essas ocasiões, do ponto de vista de transmissão do vírus, são muito, mas muito mais arriscadas do que ir a um restaurante", opina Nancy Bellei.
Tem lógica: nesses estabelecimentos, em tese, ninguém poderia se levantar para ir ao banheiro ou a qualquer canto sem máscara, garçons usam equipamento de proteção, o ambiente precisa estar ventilado, as portas devem permanecer abertas, as mesas ficam distantes entre si e há um limite de pessoas em cada uma delas. Muito diferente de abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim em confraternizações dentro da casa de alguém.
"Mas justamente porque os restaurantes liberam seis pessoas por mesa, no máximo — o que é o certo — , as pessoas fazem essas festas, que acabam sendo uma grande irresponsabilidade", diz Sérgio Cimerman. "Basta um indivíduo assintomático em um desses encontros para passar a covid-19 para todo mundo que estiver ali presente."
O médico ainda esclarece: "Não são apenas os muitos jovens que têm esse comportamento. O que mais temos visto nos hospitais são pessoas por volta dos 40 anos que frequentaram reuniões sociais assim". Para ele, as autoridades e a vigilância deveriam ser mais severas para coibir esse tipo de encontro e algo nesse sentido deveria ser criado nos próximos dias.
Sérgio Cimerman e seus colegas estão de olho — e bem preocupados — com dezembro. Afinal, é mês que promete, com happy-hours, amigos-secretos, ceias de Natal com trinta convidados e brindes de adeus, ano velho da pandemia. Só que, confraternizando assim, teremos um 2021 com tudo de novo. Essa será uma onda difícil de pular.









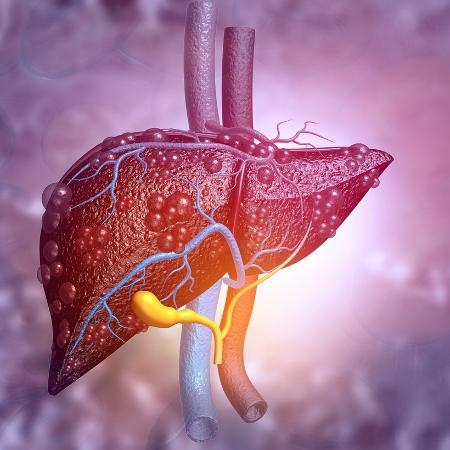







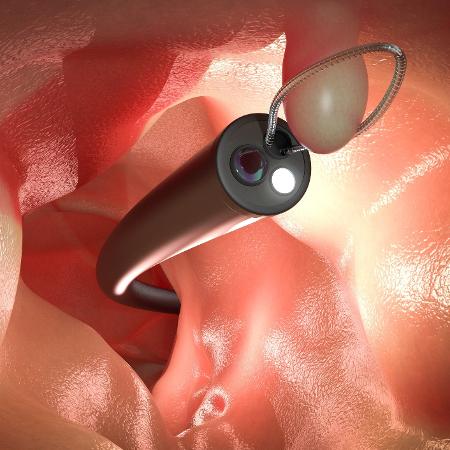

ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.