'Perdi útero e filha': por que violência obstétrica tem que virar lei

Em novembro próximo fará 20 anos que uma jovem grávida de seis meses, moradora de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, perdeu a filha e a vida após uma sucessão de erros durante seu atendimento, num hospital público da região. As violências as quais Alyne Pimentel, 28, sofreu foram tão graves que em 2011 o país foi condenado por um Comitê ligado à ONU (Organização das Nações Unidas) a pagar o equivalente a R$ 131 mil à mãe da jovem, que deixou ainda uma menina de 5 anos.
Apesar da condenação, profissionais da saúde ainda se recusam a usar o termo violência obstétrica, enquanto descasos como esse seguem acontecendo, como o da vendedora Raquel da Silva Afonso, 40, que perdeu a filha e o útero durante o parto, e a enfermeira Cristiane Boukouvalas, 51, que além de ter passado por uma laqueadura sem sua permissão viu o filho sofrer paralisia cerebral em decorrência do mau atendimento. Por essas razões, juristas defendem a inclusão do termo violência obstétrica no código penal.
O nome voltou à discussão no fim do ano passado quando a influenciadora Shantal Verdelho afirmou ter sofrido manobra de Kristeller, desaconselhada pelo Ministério da Saúde por provocar sérios danos para a mulher e para o bebê, além de ter ouvido xingamentos do médico Renato Kalil durante o parto de sua segunda filha, em setembro. Ele é investigado por violência obstétrica, assédio sexual e moral.
Hemorragia e luto
Raquel deu entrada em um hospital público em Santa Catarina para dar à luz Melissa em agosto de 2020. Com 41 semanas de gestação e três centímetros de dilatação, ficou em espera por atendimento durante três horas. Além disso, o pai da criança foi proibido de entrar na sala de parto, atitude contrária à lei de 2005, que garante às gestantes o direito à presença de acompanhante durante e após o parto.
Após aguardar por hora, Raquel diz que induziram seu parto com aplicação de ocitocina sintética a cada 30 minutos, contra sua vontade. O uso da substância lhe causou dor, ruptura do útero e dificuldade respiratória da criança. Além disso, ela complementa, houve comentários da equipe médica como: "Essa vai dar trabalho" e "se você não colaborar vai ser pior."
Mãe de um jovem de 22 anos e um adolescente de 12, Raquel precisou passar por uma cesariana, e Melissa saiu sem vida. A causa do óbito foi anóxia intrauterina, que é a falta de oxigenação. Além da filha, ela perdeu seu útero e ficou duas horas em cirurgia para estancar uma hemorragia.
Não para por aí. Segundo Raquel, os médicos insistiram para que ela olhasse para a filha sem vida. Ela sequer conseguiu ir ao enterro.
Sabia que estava sofrendo a violência, mas não tinha o que fazer. Quando acordei da cirurgia, eu e meu marido estávamos em choque. E o nome da minha filha foi apagado da placa que fica junto à cama das mães. Foi algo muito forte
Raquel da Silva Afonso
Ela registrou denúncia contra a equipe médica na ouvidoria do hospital, no Ministério Público Federal de Santa Catarina, no Conselho Regional de Medicina do Estado e na delegacia. O caso foi registrado como negligência médica e está em fase de investigação na polícia e no MP. Ela ainda criou uma petição online pedindo "Justiça para Melissa".
Não há lei sobre violência obstétrica
Segundo pesquisa da Fiocruz divulgada em 2021, a violência obstétrica atinge 36% das gestantes, tanto na rede pública quanto na privada. Um outro estudo, de 2010, feito pela Fundação Perseu Abramo, mostrou que as violências mais comuns são gritos, procedimentos dolorosos sem consentimento ou informação, falta de analgesia e negligência.
Mesmo assim, o termo violência obstétrica não aparece no código penal ou civil nem é citado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia (FIGO). Shantal, inclusive, estuda a possibilidade de protocolar um projeto de lei que criminaliza o ato.
Em nota enviada a Universa, a Febrasgo (Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia) afirma não recomendar seu uso porque "o termo remete a ideia de que o obstetra seria um ser violento. E, de nenhum modo, o obstetra deve ser violento."
Na avaliação da instituição, para cada ato contra a gestante como não conseguir vaga em maternidade à manobra de Kristeller, "é fundamental o emprego de terminologias específicas."
É o que a Justiça tem feito. Se a vítima passa por uma manobra de Kristeller, a equipe médica pode responder por lesão corporal.
Quem explica é Fabiana Dal'Mas, promotora de Justiça de Enfrentamento à Violência Doméstica, de São Paulo. Na avaliação da especialista, que atua no caso Kalil, ter uma legislação específica ajudaria a criar varas de profissionais especializadas no tema, além de dar mais visibilidade:
"Seria importante, levando em consideração os altos números no Brasil de morte materna evitável."
É preciso nominar as violências para que elas sejam combatidas e para que os índices melhorem
Promotora Fabiana Dal'Mas
Caso Alyne Pimentel
Em novembro de 2002, Alyne deu entrada na Casa de Saúde Nossa Senhora da Glória sentindo náusea e dores abdominais. Estava grávida de seis meses. Apesar disso, não foram feitos exames.
Voltou dias depois com mais dores, e ao ser examinada viu que a filha estava morta. Ela precisou passar por um parto induzido para a retirada do feto, mas sofreu hemorragia e precisou ser transferida para outro hospital. Morreu após esperar oito horas por uma ambulância.
Sua mãe, Maria de Lourdes da Silva Pimentel, levou o caso à Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres (Cedaw), ligada à ONU. Em 2011, o órgão entendeu que houve morte materna evitável, concluiu que não foram garantidos os serviços de saúde básicos à Alyne e que ocorreu tratamento discriminatório com base no gênero. Foi a primeira vez que um caso do tipo foi levado e decido pela Comissão.
Além de reparação financeira, o Brasil deveria garantir o direito das mulheres à maternidade segura e a preços acessíveis, aos cuidados obstétricos de emergência; a redução das mortes maternas evitáveis entre outras ações.
Para as mães ouvidas por Universa, o país não cumpriu.
Paralisia cerebral
A enfermeira Cristiane Boukouvalas, de 51 anos, luta há 11 por uma indenização contra a equipe médica que a atendeu em São Paulo. Internada com quase 37 semanas de gestação, esperou pela obstetra por mais de sete horas em uma maternidade privada na região central de São Paulo, sofreu a manobra de Kristeller e passou por uma laqueadura sem sua permissão logo após o parto. Seu caçula, Heitor, teve paralisia cerebral em decorrência de uma hemorragia, diagnóstico descoberto 38 dias após o parto.
Por lei, a esterilização somente pode ser feita sob pedido da mãe, maior de 25 anos ou com pelo menos dois filhos vivos, 60 dias antes da cirurgia, e com o consentimento do companheiro. O médico também pode realizar o procedimento se constatado risco à vida ou à saúde da mulher ou da criança. Cristiane nega ter se enquadrado nessas prerrogativas.
"Eu era enfermeira neonatal e também cuidava de vítimas de violência e não consigo mais trabalhar por trauma. Também tentei ter outro filho, mas não consegui", lamenta Cristiane, que hoje cuida integralmente do menino. Ela é mãe ainda de um adolescente de 14 anos.
Em processo por erro médico e danos morais na Justiça, uma perícia médica confirmou que foi feita a manobra e também a antecipação do parto, mas o hospital nega que a criança tenha sofrido a paralisia por causa do procedimento. Na sua defesa, a unidade afirma que Heitor já nasceu com problemas devido a infecções as quais Cristiane sofreu, como urinária, o que nunca foi provado, de acordo com ela.
"E se o Heitor já tinha problemas antes do nascimento, deveriam ter feito o diagnóstico e o tratamento", observa o pai da criança, o engenheiro Nicolas Boukouvalas.
Já em processo ético-profissional no CREMESP (Conselho Regional de Medicina de São Paulo) ao qual Universa teve acesso, a obstetra que realizou o parto de Cristiane admite a laqueadura, mas justifica que fez por insistência da paciente, alegando que aceitou fazer porque ela teria idade avançada, na época 40, ser cardiopata e que não queria passar por todo aquele sofrimento novamente. Disse ainda que Cristiane prometeu sigilo. Seu marido, que a tudo acompanhava, afirma que chegou a questionar se a médica estava fazendo laqueadura na esposa, e ouviu uma negativa.
Enquanto luta por reparação, o casal também cuida da Anavem (Associação de Vítimas de Erro Médico), em que recebe diariamente relatos diversos de falhas médicas, principalmente de mães que perderam seus filhos ou que tiveram graves sequelas pelo mal atendimento. Nicolas explica que ali as vítimas recebem apoio moral e orientações técnicas.
"O que falta na Justiça, não só para as mães, mas para todos os casos de erros, são juízes especializados na área. Falta uma legislação focada no assunto, que permita identificar mais facilmente os fatos, evitando fraudes nos prontuários médicos", ele finaliza.














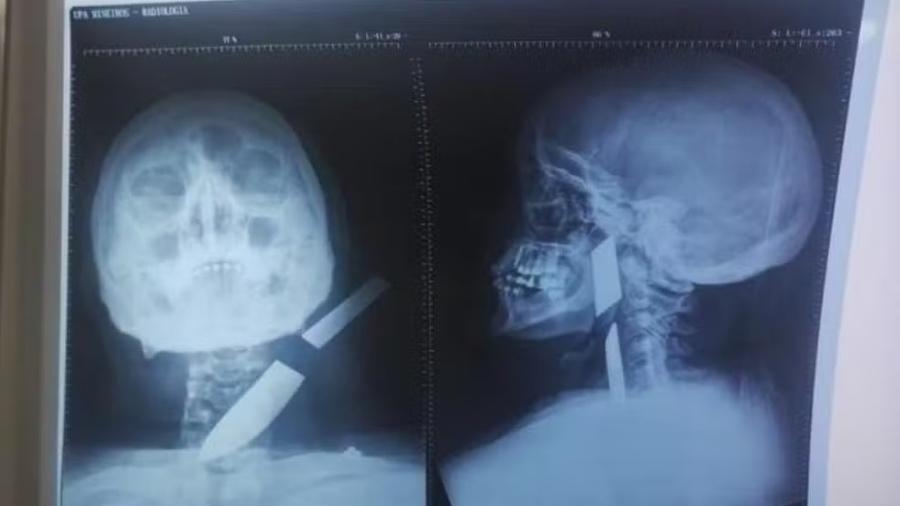







ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.