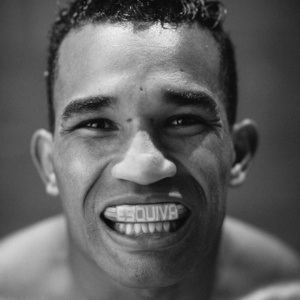Eu joguei oito jogos no final da temporada. Tive duas semanas de férias e voltei a treinar. Comecei a sentir uma leve dor no meu lado esquerdo. No dia seguinte, mais dor, mais dor, mais dor. Aquela mesma dor que sentia do lado direito todos esses anos atrás agora eu começava a sentir no lado esquerdo.
Liguei pro mesmo médico. A gente tentou fazer outro tratamento com injeções dentro do quadril. Voltei a treinar e... Dor, dor, dor. Liguei para o médico, e ele falou: "Tiago, infelizmente teu quadril está igual ao outro. Osso no osso. Agora é sua decisão. Você vai querer fazer a mesma cirurgia no outro lado, ou você vai querer parar de jogar?".
Vendo a situação em que eu estava, a minha idade... Se eu tivesse que fazer outra cirurgia, ia demorar mais um ano pelo menos para quem sabe conseguir voltar. Passar por tudo aquilo de novo. Com a primeira cirurgia, eu já tinha perdido praticamente 40% da minha velocidade. Com outra cirurgia, ia ficar impossível jogar basquete profissionalmente.
Com um lado você até consegue enganar, mas dois quadris operados? Numa liga como a NBA, que está cada vez mais rápida, cada vez com menos jogadores na minha posição. Chegou o momento. Falei com minha mulher e decidir parar de jogar.
Talvez desse para continuar na Europa, mas chegou um momento em que eu também tinha de pensar na minha vida fora do esporte. A minha primeira operação tem validade de 20 anos. Ou seja, em 18 anos eu vou ter de fazer uma outra cirurgia nesse quadril.
Provavelmente vou ter que fazer outra no meu esquerdo também. Estou falando de quatro cirurgias. Eu teria de viver em um hospital, não quero isso para minha vida.
Chega uma hora que você tem de pensar no seu futuro como pedestre, na rua. Não quero ficar numa cadeira de rodas. Se uma dessas cirurgias dá errado, se tem uma infecção no osso, alguma coisa, você está ferrado... Eu posso tentar a sorte uma vez. Mas muitas outras eu não vou.
Hoje, meu momento é de descobrir no que eu sou bom fora de quadra. Eu sei o que a gente precisa para ser um time campeão. Eu sei como o time tem que treinar. Eu sei como funciona o processo de selecionar um atleta. Ainda não sei o que eu quero fazer até o fim da minha carreira. Mas tenho a sorte de estar no Brooklyn Nets, um time que me dá a possibilidade de aprender e de começar uma nova caminhada.