"Reconhecer o poder do povo é revolucionário", diz Penny Wangari-Jones

Em seus 18 anos de atuação, o Festival Feira Preta já recebeu 120 mil pessoas. Entre promover arte e debates de relevância social, o evento de empreendedorismo negro já apresentou 700 expositores do Brasil, 600 artistas, nacionais e internacionais, e movimentou R$ 4 milhões. Em 2020, a Feira Preta sai do Memorial da América Latina, em São Paulo, onde foram as últimas edições e explora o ambiente virtual integrado em diversas plataformas.
Os ativistas políticos Douglas Belchior e Penny Wangari-Jones foram convidados ontem (27) para conversar sobre suas estratégias e práticas antirracistas no Painel Mobilização Social para Políticas Públicas, mediado por Priscila Fonseca e cocriado com o British Council. Ao final da troca, fica nítido como tanto no Brasil quanto no Reino Unido é necessário atuar na formação política das pessoas negras e pensar ações sociais que passem pelo filtro de interseccionalidade.
"Esse ano vai ficar marcado na história como o ano da pandemia do coronavírus. O único fenômeno capaz de atravessar a pandemia esse ano foram os protestos contra violência racial", dispara Belchior. Professor de história e ativista político, Douglas conta que sua trajetória no ativismo político começou há 22 anos, quando conheceu os cursinhos populares em bairros negros — ele aproveita para questionar por que no Brasil não se emprega a expressão de comunidades negras para tratar de periferias, aponta que se trata de uma forma de generalizar e tirar a identidade negra do território. "Os cursinhos populares são espaços educacionais alternativos compostos por professores voluntários com intuito de atender a comunidade e gerar mobilização comunitária e luta política por acesso a universidade como direito dos pobres, já que o ensino superior sempre foi um privilégio dos ricos", explica.
Curiosamente, Belchior se considera como uma geração de transição: alguém que viu e conviveu com as lideranças negras responsáveis por ações afirmativas, luta pelas cotas raciais em universidades, mas também convive hoje e tem sua atuação compartilhada com os jovens negros que foram beneficiados por essas políticas públicas. "Na minha concepção, a educação e o acesso da população negra aos ambientes educacionais são o grande legado que os governos progressistas deixaram no país; é o que mais permaneceu no tempo", reflete.
Um ponto em comum dos convidados foi ter visto a militância negra, a princípio, dentro de casa. Penny fica emocionada quando Douglas conta sobre sua relação com sua mãe e a participação dela na luta por direitos e relembra que sua família, de origem queniana, resistiu à ocupação inglesa na colônia. "O ativismo em si, ou seja, a força de lutar, ímpeto para a ação e desejo de justiça está em nós, vem do nosso ambiente familiar, das nossas raízes", diz Penny.
"O trabalho da Uneafro vai impactar em muitas casas, muitas pessoas, porque quando desafiamos o sistema educacional, que não conta a história verdadeira e nos faz sentir inferiores, reconhecemos o nosso poder e podemos transformar a nossa sociedade", declara. Espantada com o dado brasileiro de genocídio da população negra, o qual aponta que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no país, Wangari-Jones parabeniza a resistência brasileira e diz que uma das consequências de se reconhecer hoje em uma posição de privilégio, por viver e atuar no Reino Unido, é que ela deseja trocar globalmente, somar, compartilhar e proteger demais lutas negras pelo mundo.
Hoje, Penny atua no norte da Inglaterra, uma região, segundo ela, com menos negros, mais racismo e menos investimento público para iniciativas antirracistas. Diretora do Racial Justice Network, ela centra raça como foco do seu trabalho e, ao visitar o tema racial com interseccionalidade, ou seja, pensando em identidade, classe e gênero, ela consegue ver os problemas sociais por diferentes ângulos, desenvolver propostas direcionadas e, assim, engajar pessoas que talvez não se interessariam pela Racial Justice Network caso a organização se apresentasse como unicamente um grupo antirracista. "Reconhecer o poder do povo é o que vira o jogo", dispara.
Penny chama a atenção para que essa visão integrada não caia no que ela chama de "olimpíadas de opressão", ou seja, uma competição de quem é mais atingido (ou sofre mais) com a estrutura vigente. Diferente dessa disputa, a interseccionalidade tem um propósito: a organização não deixar ninguém de fora da luta antirracista. Negra e imigrante, Penny vivenciou essa dupla opressão, a qual proporcionou experiências ruins com a polícia, falta de direitos, injustiça social e discriminação. Perante as barreiras que se apresentam a essa identidade combinada, trabalhar em solidariedade e coletivo contra o sistema de opressão é a determinação pessoal e política da ativista. A Racial Justice Network denuncia as políticas de exclusão inglesas como legados coloniais e se projeta para o futuro ao questionar: como criar um mundo melhor a partir de hoje?
Questionado pela mediadora Priscila Fonseca sobre a morte de George Floyd e suas reverberações sociais, Douglas diz que esse foi o único fenômeno tão marcante de 2020 quanto a própria pandemia de Covid-19. "A partir dos Estados Unidos foi para o mundo inteiro. Quando esse debate do assassinato brutal de George Floyd chega no Brasil, ele encontra um contexto: além da pandemia, estamos no momento em que a classe média está demonstrando medo pelo democracia brasileira por causa do governo autoritário de Bolsonaro", explica o educador paulistano, "Atingiu os jornalistas, intelectuais, escritores, artistas, então a classe média começa a se passar por progressista. A imprensa começa a cobrir o caso e isso gera um constrangimento, porque essa mesma classe média progressista não pode se manifestar pela violência racial estadunidense se ela é míope e ignora a violência racial brasileira."
Outro diferencial para a instalação do debate no Brasil, segundo Belchior, é o movimento negro estar muito organizado porque as pessoas negras que foram beneficiadas pela luta dos movimentos anteriores estão hoje em posições estratégicas: esses jovens negros estão formados e atuam no jornalismo, na mídia, trata-se de artistas e pensadores contemporâneos cujas vozes tem alcance por vezes maior que a mídia tradicional. "Então, quando veio a provocação de que nosso movimento negro, no Brasil, não seria tão disposto ou tão punjante, isso só deflagrou que a diferença está na postura dos brancos, cobertura da mídia e sensibilidade social do tema", provoca Belchior, "Por que ao se referir aos protestos estadunidenses o jornalismo fala em 'manifestantes' e nos protestos brasileiros com a mesma causa fala-se em 'vândalos'? A Uneafro está em 40 bairros e isso nunca foi suficiente para mobilizar a atenção pública. A pressão política do movimento negro constrangeu esse setor da sociedade e virou um debate público nacional."
Douglas diz ainda que o Brasil tem seu próprio movimento similar ao Black Lives Matter, que é a Coalizão Negra por Direitos, que está sendo construída há dois anos por 150 coletivos negros do país, os quais assinam o manifesto "Enquanto houver RACISMO, não haverá DEMOCRACIA". Penny declara que essa seletividade de empatia, que se debruça com mais facilidade sobre as causas estadunidenses do que brasileiras, certamente é um efeito imperialista. Para ela, o assassinato de George Floyd foi único e triste. "Houve esse gosto amargo das pessoas perceberem que racismo existe só agora e eu me perguntei onde essas pessoas estavam vivendo esse tempo todo?", questiona Wangari-Jones,
"Além disso, ver a morte de uma pessoa negra é ver a morte de um irmão, irmã, tio, tia, não há uma desconexão, e me afetou que a morte dele fosse tão exibida dessa forma, pelo mundo inteiro. É como quando mostram na mídia os corpos de imigrantes flutuando no Mediterrâneo e isso é compartilhado no Instagram — o que significa para nós ver nossos irmãos serem expostos dessa forma?"
Sobre a projeção do Black Lives Matter, Penny gostaria de ver maior internacionalização, ou seja, que o movimento pudesse abraçar também países de maioria negra, o que foge de um embate de brancos versus negros e passa pela ampla compreensão de como a supremacia branca contamina as instituições e reverbera nos agentes, sejam eles negros ou não. Uma movimentação interessante na Inglaterra foi a habilidade de pessoas brancas em se reconhecerem e se reverem como agentes do racismo e da branquitude, que podem e devem ir para as ruas protestar, participar da luta para romper com supremacia branca. Segundo Wangari-Jones, é inédito e fundamental esse ímpeto de pessoas brancas de querer mudar a estrutura.
Ela conta que o Racial Justice Network promove um curso para pessoas brancas sobre rever o poder branco, o qual aborda fragilidade branca, branquitude e mostra como aplicar esses conhecimentos. Após o assassinato de George Floyd e durante as ondas de protestos na Inglaterra, a organização recebeu muitos emails de pessoas brancas buscando saber como poderiam ajudar o movimento negro. Pela primeira vez, o curso teve 1.000 pessoas inscritas. "Tudo é válido: cursos de formação política, literatura negra, presença nos protestos; é preciso pensar o antirracismo de forma aberta e múltipla, mas realmente postar no seu Instagram não é o suficiente", diz Penny. Segundo a ativista, a lógica não falha: quanto mais as pessoas entenderem e absorverem a causa negra, melhor; assim, é mais provável de mudar a estrutura. A Feira Preta continua com sua programação, com painéis, shows e entrevistas — tudo digital e negro.








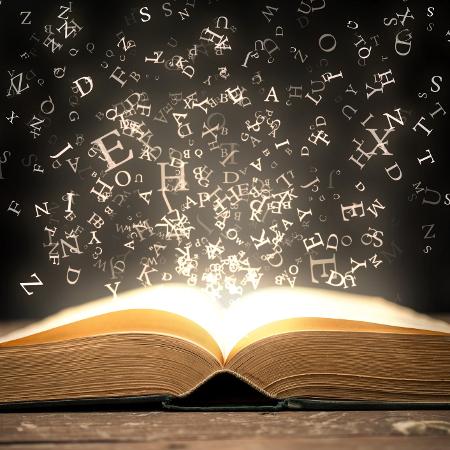








ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.