Não é só discurso: como responsabilidade social e ambiental viram prática?

Dificilmente em 2020 empresas vão se manifestar publicamente contrárias a questões de diversidade e sustentabilidade. Isso porque são conceitos que se encontram estabelecidos como relevantes na sociedade, ainda que com graus diferentes de importância e entendimento. A concordância hipotética com esses valores, no entanto, não significa prática ou intenção.
A reportagem procurou identificar e entender como empresas estão lidando com temas que envolvem responsabilidade social — tais como representatividade e equidade racial, de gênero e orientação sexual — e ambiental. Gestores, estagiários e funcionários das áreas de recursos humanos foram ouvidos, bem como especialistas no assunto.
As empresas que se dispuseram a conversar pertencem a diversos segmentos da economia brasileira, sendo encarregadas dos postos de trabalho de mais de 45 mil pessoas. Como parte da sociedade civil, são atores importantes na construção de um país mais igualitário.
O fato de terem aceitado falar sobre suas ações é positivo — para o diretor-presidente do Instituto Ethos e colunista de Ecoa, Caio Magri, esses temas ainda são tabu no ambiente corporativo.
À frente de uma organização cuja missão é mobilizar, sensibilizar e ajudar empresas a gerir os negócios de forma socialmente responsável e sustentável, Magri acumula experiência para dizer que o setor privado ainda se restringe a alguns bons exemplos quando se trata de representar o povo brasileiro em sua pluralidade. "Existe um grupo de empresas que têm demonstrado prioridade na causa da inclusão e da diversidade", diz. "Ainda é uma minoria, mas isso está mudando", acredita.
Compromisso da diretoria com mudança
Magri culpa problemas estruturais e culturais do Brasil, que impediriam uma postura mais proativa das empresas para que sejam, de fato, diversas, e reflitam a realidade da sociedade brasileira. "Existem [gargalos estruturais e culturais] nas empresas que ainda padecem de um preconceito e uma falsa meritocracia, deixando de lado, muitas vezes, ações afirmativas que acelerariam a evolução", diz.
Em suas consultorias, Magri orienta as empresas que querem ser efetivamente plurais a acatar a necessidade de um compromisso da alta diretoria. Segundo ele, as organizações que se destacam nesse campo são justamente aquelas que decidiram tratar a pauta como prioridade. Essa seria uma das principais fragilidades atualmente nas empresas com operações no país. "O primeiro passo é a decisão da diretoria e fazer grupos dentro da empresa para que possam se reunir, pensar e agir. Depois, é preciso elaborar um censo — não é suficiente pegar dados dos funcionários pelas fichas cadastrais", recomenda. O censo, diz Caio, vai gerar um novo ambiente já no início. "Para fazê-lo é preciso capacitar, movimentar a empresa e é o momento de comunicar que se quer melhorar a diversidade", diz ele.
O que gera esse ímpeto é, segundo ele, um misto entre uma maior conscientização das empresas com um maior questionamento da sociedade civil. "Elas se retroalimentam. Há uma maior exigência da sociedade para que se tenha comportamento ético e, ao mesmo tempo, a percepção das empresas de que um ambiente diverso e inclusivo produz resultados econômicos positivos, conquistas de prêmios e uma maior retenção e captação de talentos". Todavia, há um outro aspecto: o receio de manchar a reputação da marca.
É grande esse medo [de errar]. Algumas empresas aprendem pela dor, outras pelos exemplos de terceiros
Caio Magri, diretor do Instituto Ethos
Violência racial impôs a pauta
Recentemente, a pauta da luta antirracista se colocou de maneira mais incisiva no Brasil e no mundo. Mas os motivos vieram da morte. Aqui, a criança de nome Miguel, que caiu do oitavo andar de um apartamento de luxo no Recife (PE) quando a patroa de sua mãe o deixou sozinho no elevador; o adolescente João Pedro, que perdeu sua vida assassinado pela força policial em São Gonçalo (RJ); e tantos outros. Nos EUA e reverberando pelo globo, a morte de George Floyd, sufocado por um policial.
Esses casos não envolvem diretamente empresas, mas "diferente da culpa, que leva à inércia, a responsabilidade leva à ação", como diz a filósofa Djamila Ribeiro em seu livro "Pequeno Manual Antirracista".
Nesse ambiente, a reportagem do Ecoa encontrou a multinacional mineradora de ouro AngloGold Ashanti. Com orgulho de seus 180 anos, ela se diz a "indústria com maior longevidade do Brasil". Segundo a empresa, sua produção de ouro no Brasil representa 15% da produção global do grupo. O passado da companhia é escravista. Ela ativamente se valeu da mão de obra de pessoas escravizadas quando tinha o nome de Saint John Del Rey Mining. Em uma entrevista para o site da Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg), o presidente da empresa, Camilo de Lelis Farace, cita que começaram com a escravidão, mas diz que "as coisas mudaram", e já parte para falar sobre as falhas do setor quanto às barragens de rejeito.
Procuramos entender se a empresa já se manifestou arrependida desse passado e não tivemos resposta direta. A empresa tem sede na cidade mineira Nova Lima, bem ao lado da capital Belo Horizonte. A sede tem um nome: Casa Grande.
"Com certeza a empresa não teve performance de remodelamento. Não tem nenhum compromisso com a luta antirracista, [ter esse nome] ratifica posicionamento histórico de escravidão", diz Fernanda Barros Santos, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), professora adjunta do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em Direitos Humanos Suely Souza Almeida.
"Se quisessem, já tinham tirado o nome, feito nota de repúdio. Mudar o nome é o primeiro passo. Se fizer isso de fato vai se mostrar aberta à questão de raça e o arrependimento da sua forma de concepção. O racismo não deixa isso acontecer."
Questionada sobre o nome, e se o mudaria, a mineradora afirmou: "aproveitamos para ressaltar que a AngloGold Ashanti, baseada em seu Código de Ética, não admite discriminação de raça, sexo, nacionalidade, deficiência física, credo, afiliação política ou de qualquer outro tipo. A empresa mantém também um canal independente de denúncias. Os casos são recebidos por uma empresa externa especializada, sendo todos investigados e analisados. O processo é feito em total isenção, sigilo e segurança". Em outra oportunidade, disse para a reportagem de Ecoa que "entende que a luta contra o preconceito e pela diversidade é um aprendizado constante e está sempre aberta a melhorias e a oferecer contribuições para um mundo mais igualitário".
Universidade mais próxima do mercado
O escritório jurídico Daniel Advogados, com sede no Rio de Janeiro, tem cerca de 200 funcionários e mais de 18 anos de atuação. "Começamos [com ações em prol da diversidade] em 2015", diz a gerente de RH Bruna Souza. Ela detalha duas iniciativas: procurar estagiários para o escritório em coletivos de pessoas negras e universitários; e um grupo que trabalha internamente o tema com reuniões e ações dentro do escritório.
Bruna acredita que é preciso começar projetos para exista a luta antirracista no ambiente jurídico. "Assim começa a entender o outro, a praticar de fato a empatia e enxergar que não temos os mesmos níveis de equidade, não tivemos as mesmas oportunidades", diz.
Uma das selecionadas para estágio é Tallyta Ferreira, de 22 anos, atualmente terminando o 9º período da faculdade de Direito na PUC-Rio, que está há um ano na empresa. "Tem bastante negros. Sempre queremos mais, mas se vê com mais facilidade", conta. Do coletivo que ela participa na faculdade, ouve histórias de profissionais com chefes que os menosprezavam ou colegas que não acreditavam que uma pessoa negra poderia estar em uma faculdade conceituada.
Apesar disso, apenas 6% do quadro de advogados da firma se autodeclaram pretos ou pardos, enquanto no quadro geral de funcionários essa proporção é de 26%.
Fernanda Barros Santos, professora da UFRJ, diz que buscar profissionais apenas para cargos de estágio passa por uma precarização das categorias e é mais barato para as empresas. "É porque se paga menos. Contratar quem já está formado é mais caro. Um engenheiro, por exemplo, que poderia ganhar R$ 6 mil, entra como estagiário ganhando R$ 3 mil", ressalta.
Para ela, as empresas estão lentas para contratar profissionais que saem das universidades. "Os negros que têm ensino não encontram trabalho; o trabalho informal e o desemprego são de negros e mulheres. O boom de cotas fez aumentar percentual de negros formados, mas, possivelmente, não encontram vaga no ramo em que estudaram. Há um descompasso entre o capital humano e o que se tem de fato no mercado de trabalho", diz.
Fernanda faz uma breve análise do espaço vazio entre as discussões teóricas acadêmicas e as ações práticas dentro de empresas e mercado de trabalho. "Ainda não tem ligação direta, a universidade não produz esse diálogo com o mercado. O que a academia pode fazer é comunicar com pesquisas no campo econômico, por exemplo, mostrando que a diversidade impulsiona consumidores, pode informar os lucros de longo prazo, mas não consegue [sozinha] mudar o status quo do mercado", conta.
Jornada é interminável, mas fundamental
Para entender o contexto das empresas quanto à equidade de gênero e sua aplicabilidade, a reportagem conversou com Nana Lemos, diretora de impacto da Think Eva, uma organização de inovação social criada em 2015. Para ela, os resultados nessa área não acontecem de um dia para o outro. "É um equilíbrio complexo de acolhimento humano, mas temos de mostrar os benefícios do ambiente diverso", conta. Segundo Nana, o setor privado precisa entender como pode ampliar e solidificar as ações do Estado.
Novamente, a crítica fica para as altas diretorias das empresas. "Falta a conscientização da diretoria, tanto no sentido de entender a diversidade quanto o benefício de uma gestão mais humana". A jornada é, afirma, interminável. "Sempre tem um público minoritário, sem poder de fala e de mudar as coisas. A primeira questão é ter acolhimento e conscientização, depois ações concretas com metas. A criação de comitês com governança, autonomia e orçamento pode ser um drive de inovação."
A Unilever é uma empresa com 51,6% de mulheres em cargos de gerências em suas operações no Brasil, número que não se materializou sozinho. "Em 2008 e 2009 começamos a jornada de equidade de mulheres e o compromisso com a ONU mundialmente", conta Luciana Paganato, vice-presidente de RH da companhia no país.
Paganato explica que, primeiro, foi preciso comunicar a importância desse processo. Depois houve "um olhar customizado por cada área". "Fui, por exemplo, para universidades falar que o setor de vendas também era para mulheres. Estamos para gerar lucro, mas é preciso fazer de uma forma diferente, ajudando a sociedade e as comunidades", acredita.
A Salesforce, empresa de tecnologia, investiu milhares de dólares em projetos de diversidade. Parte desse dinheiro foi destinado a equiparar salários de mulheres. Globalmente, a empresa diz que a cifra chegou a US$1.6 milhão. Luana Gimenez, líder no Brasil do grupo interno que ganhou o nome de Women's Network, diz que, para as organizações do setor tecnológico, o desafio é captar mulheres. "Na minha opinião, as empresas desse segmento já estão um passo à frente por serem inovadoras", enxerga.
Quem recebeu um reajuste de 8% em 2016 foi Adriana Daga, gerente sênior na empresa. "Fizeram um comunicado geral falando desse movimento. Eu não sabia [que o salário estava desigual] e foi um susto e uma coisa boa ao mesmo tempo", diz ela. A empresa diz que anualmente faz novas revisões e correções que sejam necessárias.
Em 2016, a Ambev começou a levar a questão LGBTQIA+ para discutir "melhores práticas de inclusão e para que os funcionários "se sentissem mais à vontade para se expressar".
Mariana Holanda, responsável pela área de Saúde Mental, Bem-estar, Diversidade e Inclusão da Ambev, conta que foram criados parâmetros para avaliar a gestão dentro da empresa. "Com indicadores mais objetivos, os grupos de diversidade vêm promovendo análises internas que traçam um panorama da representatividade e, a partir do resultado, recebem as ferramentas necessárias para estruturar políticas de curto, médio e longo prazo".
Na prática, Mariana relata a criação da licença-paternidade homoafetiva de 180 dias.
A comunicação da cervejaria também passou por mudanças. Mariana conta que campanhas publicitárias machistas já não estão mais nos canais que hospedam os perfis da empresa. "Temos consciência de que o segmento era, sim, machista e homofóbico, e isso refletia nas nossas comunicações. Aprendemos com os erros do passado e agora estamos dispostos a ser parte da solução", defende.
Urgência da responsabilidade ambiental
Empresas que lidam direta e indiretamente com questões de impacto ambiental procuram vender a ideia de que são responsáveis. Daniela Teston, gerente de engajamento do WWF Brasil, diz que "não dá mais para desconectar pessoas e natureza. A questão ambiental no setor privado tem muito o que percorrer, mas tivemos certo amadurecimento, graças à necessidade e pelas evidências do impacto de mudanças climáticas".
Para Teston, o principal gargalo das empresas é a velocidade com que os planejamentos vão para a ação. "O corporativo tem tendência de se mover lentamente. A gente vê empresas desapontando nas agendas positivas, muito ligada às próprias marcas, justamente por colocar objetivos que normalmente não seriam almejados devido à dificuldade de se conseguir alcançar", diz.
Uma boa estratégia, para ela, é criar metas ambientais que impactam o bônus de participação nos lucros dos executivos. "É uma das melhores formas. Estudos apontam que a empresa que possui governança social e ambiental, inclusive com indicadores que impactam nesses bônus, são as que têm menor flutuação de riscos externos, sejam políticos ou econômicos", diz.
A Natura, também ouvida por Ecoa, diz que nos últimos vinte anos contribuiu para a conservação de 1,8 milhão de hectares em parceria com comunidades fornecedoras, ONGs e setor público. O objetivo é ampliar para 3 milhões de hectares a área preservada na Amazônia até 2030 — e seu CEO explica aqui como isso seria possível. No ano passado, só a Natura vendeu 374,4 milhões de unidades de cosméticos no Brasil, responsáveis por uma receita bruta de R$ 8,8 bilhões.
Para a diretora global de sustentabilidade da Natura, Denise Hills, é papel das empresas refletir as demandas da sociedade. "Para as empresas estarem em atividade daqui a 50 anos é preciso se guiar por isso. E, se quiserem ser líderes, têm de fazer mais rápido". Segundo ela, hoje já não funciona mais falar uma coisa e fazer outra. "Não em rede, não em uma sociedade conectada."









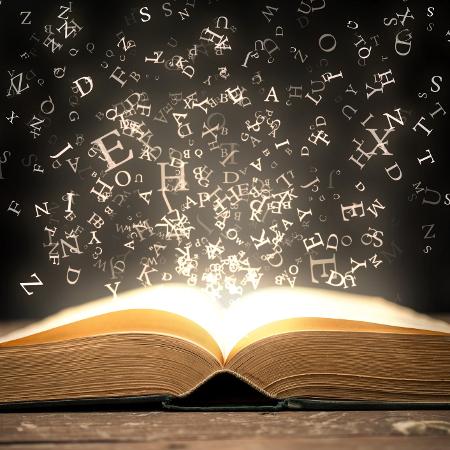








ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.