Para filósofo do axé, economia poderia aprender com orixás e comunidades
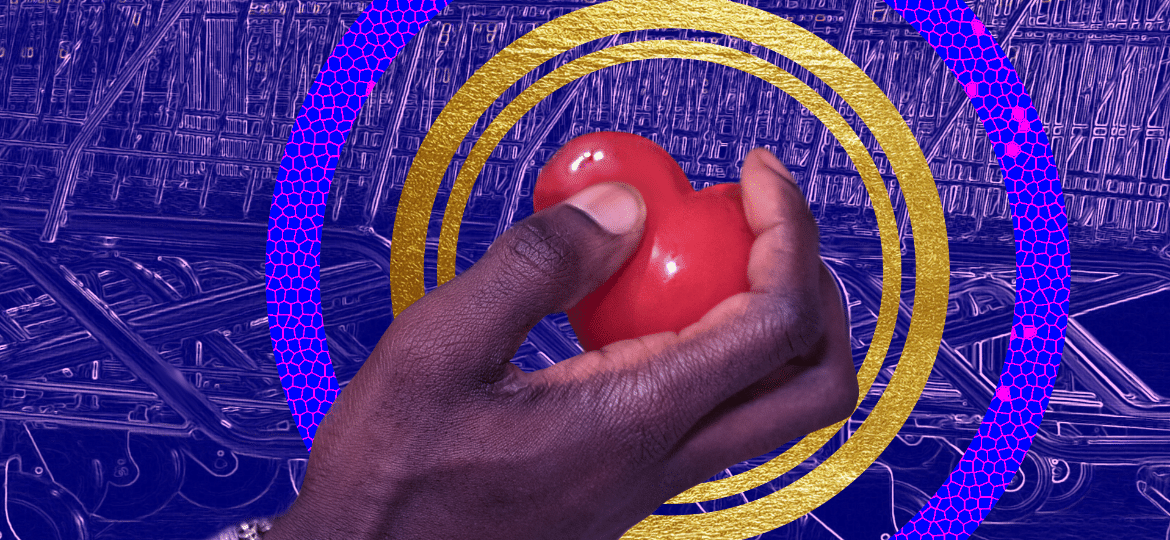
Preservar as vidas ou a economia? A decisão salomônica ganhou os holofotes com a explosão da covid-19 no Brasil, como se os dois elementos estivessem desconectados. Wanderson Flor do Nascimento, 43 anos, filósofo e professor da UnB (Universidade de Brasília), desconstrói essa dicotomia. "Tenho que cuidar do espaço de relação entre eu e as outras pessoas para que elas estejam bem, num passo em que não tenho como objetivo acumular, explorar nem diminuir a potência de vida do outro. É um sistema econômico de mútua proteção e que constrói uma comunidade de pessoas que se complementam, não podem destruir umas às outras."
Em um país que ratifica que algumas existências "valem menos" do que outras, com ou sem coronavírus, a normalidade sugerida para o pós-pandemia pode significar o retorno ao pesadelo onde muitos pagam a conta para poucos há mais de 500 anos.
É essa a reflexão instigada por Wanderson. Nesta entrevista, o especialista em Bioética, autor da tese "Por uma vida descolonizada: Diálogos entre a Bioética de Intervenção e os Estudos sobre a Colonialidade" e do artigo "Olojá: Entre encontros - Exu, o senhor do mercado", contextualiza como as escolhas econômicas brasileiras desencadeiam uma "relação predatória" — como afirma o líder indígena Ailton Krenak — com as pessoas e com a natureza.
"A gente usa [a natureza] como se ela estivesse a nosso serviço. É um processo de reprodução de uma ideia que vem desse lado de cima das vidas que 'valem mais'", diz ele. Tendo como referência a cultura iorubá e as estratégias de resistência comunitárias, o filósofo provoca e indica caminhos possíveis onde a reciprocidade seja mais valorizada do que o acúmulo desenfreado. Leia abaixo.
ECOA/data_labe - Durante a pandemia, vemos as desigualdades sociais serem exacerbadas com decisões do governo mais rápidas e assertivas para grandes empresas do que para o auxílio emergencial, destinado a uma grande massa de desempregados. Seria essa postura uma reprodução do seu conceito sobre "colonialidade da vida"?
Wanderson Nascimento - A ideia básica da colonialidade da vida é de que o racismo organiza todas as relações que o mundo ocidental aprendeu a estabelecer na sociedade e faz com que algumas vidas tenham mais valor do que outras. Essas vidas que "valem menos" são um espécie de combustível, são consumidas para manter o poder e o status dessas vidas que valem mais. Elas não valem mais em si, mas nessa relação que é política, econômica e que tem a ver com esse escalonamento que o racismo faz.
A favela é a marca urbana dessa colonialidade da vida. O território é entendido como de preto e pobre, e preto e pobre no Brasil são quase sinônimos. Essa comunidade inteira vai experimentar essa marca de inferioridade que a colonialidade da vida faz. A favela é o último onde o Estado entra pra trazer benefício. Na verdade, ele entra pra trazer a morte, não para proteger as pessoas que vivem lá, e sim para atacá-las. Cria-se uma segregação urbana na cidade em que as pessoas estão de alguma maneira encarceradas, não podem sair com liberdade, correm risco até quando estão em casa, tudo isso em consequência dessa vida que vale menos.
E valem menos há muito tempo, né? O pensador e líder indígena Ailton Krenak fala muito sobre o risco de voltarmos ao normal depois da pandemia, porque o normal é um problema. Quais seriam os primeiros pontos a serem criticados na normalidade da nossa economia, da forma como nos relacionamos em sociedade?
A primeira coisa é isso o que o Krenak insiste: o normal nos trouxe até aqui. O normal é o problema. Criar um novo normal pode ser criar novas posições para que esses problemas continuem existindo.
Para as comunidades mais pobres, negras, indígenas, quilombolas, ou seja, pra todo mundo que está fora dessas esferas do poder, a crise já existia. O que acontece é que quando a crise atinge quem está no núcleo do poder, essa galera divide a conta com todo mundo.
O poder [eles] não dividem, mas o problema sim. Isso aumenta a vulnerabilidade de quem está nessa parte debaixo da colonialidade da vida. São os mais impactados, mas crise não é novidade, vivem num período constante de crise há pelo menos 520 anos.
Wanderson Flor do Nascimento, filósofo e professor da UnB
Então, o primeiro ponto é a gente compreender como chegou até aqui. O que o normal criou em termos de proteção à saúde das pessoas? O que aconteceu que esse normal permitiu que se criassem comunidades gigantescas, como a Sol Nascente, uma das maiores favelas da América Latina, que fica na capital do país? No lugar onde o poder se instituiu na forma de Estado, onde estão os políticos. Não só não impediu como favoreceu que crescessem sem infraestrutura, sem água, sem condições sanitárias, com casas muito precárias, onde muita gente vive num espaço em que não só a pandemia (do coronavírus), mas qualquer gripe atinge todo mundo, porque as pessoas não têm como manter um mínimo de distanciamento. Não é um problema que surgiu agora. Nós tínhamos um projeto de extermínio das pessoas indígenas, negras, pobres e isso se realizou por um evento da natureza (a pandemia).
O segundo ponto é pensar que tipo de relações a gente estabelece com o mundo, compreendendo o mundo como a natureza, as pessoas, histórias, culturas. Para usar um termo do Krenak, é uma "relação predatória". A gente não se relaciona com a natureza, entendo que a gente é parte da natureza, que ela é parte da gente. A gente usa como se fosse uma coisa que a gente pudesse utilizar até se esgotar a nosso prazer, como se ela estivesse a nosso serviço. A natureza cobra a conta uma hora! A gente transforma as pessoas em instrumento, usa as pessoas. É um processo de reprodução de uma ideia que vem desse lado de cima das vidas que "valem mais" na colonialidade da vida.
Mas a gente que não é rico, que não está no poder, que é de comunidade, que pertence a um povo tradicional, para tentar sobreviver, reproduz essa mesma lógica maluca que essa parte de cima do sistema determina que é o jeito de viver. E aí fica todo mundo competindo com todo mundo. Essa relação predatória é uma das fontes fundamentais dos problemas que a gente vive. Tem pouca água, tem pouco dinheiro, tem pouca comida, porque a gente fez com que fosse assim, porque é isso que faz o preço subir. Embora a gente nunca tenha produzido tanta comida como hoje com o agronegócio, com as máquinas no campo, não é feita pra gente. É para exportação e faz com que aqui seja pouco. Aí aumenta o preço, e o meu irmão, não é meu irmão, é um concorrente.
Essa lógica de disputa não é a única. Em um de seus trabalhos, o senhor contrapõe o capitalismo ao mercado-Ojá, em uma referência à cultura iorubá, que apresenta uma outra lógica de relação econômica. Quais seriam essas diferenças?
É fundamental imaginar qual é o objetivo de cada um desses tipos de trocas econômicas. O mercado capitalista tem como objetivo acumular. E acumular para quê? Para ter mais. E ter mais para quê? Para ter mais. Não tem uma finalidade. Se a gente fosse pensar a ideia da felicidade como horizonte, você teria uma meta: preciso ter tanto pra conseguir as coisas que eu preciso, vou ter uma grana para viajar, para me divertir e não vou precisar acumular mais; portanto eu me libero de uma atividade de exploração do mundo. Mas não é esse o contexto. [O capitalismo] é uma expansão indefinida da produção. Não tem o mundo como fim, tem o mundo como o meio.
A gente aprende a desejar ter mais. Eu preciso? Não, mas eu quero. Tem a ver não apenas com que a gente trabalhe para produzir mais, seja mais explorado e explore mais, mas também que a gente aprenda a desejar mais, em um desejo infinito.
Wanderson Flor do Nascimento, filósofo e professor da UnB
Ao passo que o mercado-Ojá - definindo Olojá como o senhor do mercado que é Exu (orixá, divindade da cultura iorubá) - tem outra função: estabelecer a troca, entendendo que eu não sou capaz de produzir todas as coisas, então eu preciso interagir com as coisas que as outras pessoas produzem. Enquanto o mercado capitalista é uma relação sobre a natureza, de exploração, o mercado-Ojá é muito próximo do sistema de troca de várias sociedades indígenas, nas quais se quer estabelecer relações para complementar o que me falta e oferecendo aquilo ou parte daquilo que eu tenho. É trocar o conhecimento que eu produzo como professor pelo arroz que o agricultor planta. Ele não tem a formação que eu tenho, e eu não tenho o arroz que ele produz. A gente estabelece uma troca e temos uma espécie de equilíbrio, uma troca justa.
Portanto, eu não posso explorar o produtor de arroz, porque eu dependo dele. Ele precisa estar bem para que eu esteja bem. Se eu exploro esse sujeito, ele vai estar cada vez mais arriscado, uma hora ele vai morrer e não vai ter arroz. O ponto fundamental é que eu tenho que cuidar do espaço da relação entre as outras pessoas e eu pra que elas estejam bem, estejam cuidadas, num passo de complementaridade em que eu não tenho como objetivo acumular, explorar nem diminuir a potência de vida do outro. É um sistema econômico de mútua proteção e que constrói, portanto, uma comunidade de pessoas que se complementam entre si, não podem destruir umas às outras, não podem competir.
Não posso entender que o conhecimento que eu produzo vale mais que o arroz que o agricultor produz. Eu moro em apartamento, não tenho como plantar arroz. Por mais que o sistema capitalista entenda que há uma coisa mais valiosa no conhecimento intelectual do que no trabalho no campo, isso é falso para o contexto da comunidade.
Wanderson Flor do Nascimento, filósofo e professor da UnB
Por isso esse mercado regido por Olojá, que é o senhor das trocas, é irreverente, brinca, é um mercado festivo. Exu não é uma divindade da destruição; pelo contrário, ele é vida na sua potência mais pura. Por isso o vermelho do sangue é um de seus símbolos, que é aquilo que guia todo o corpo e circula em todos os lugares. O sangue alimenta, dá vida e promove esse sistema de troca em todas as partes do corpo. E a gente pode entender o mundo como um corpo. Essa circulação, isso que faz que essa força vital - que é o axé - circular, é o que faz com que esse corpo funcione bem. Não posso manter mais sangue na cabeça e deixar o pé sem sangue. Então, é fundamental que todo esse corpo esteja bem nutrido.
Nesse sentido a natureza também é parte da nossa comunidade. Ela não é um recurso, é parte da comunidade. Nesse mercado sociabilizante que promove encontros também há tensões. A questão é se a gente pega esses conflitos e transforma em motor para produzir fortalecimento da comunidade ou se a gente usa isso para destruir, que é o que o capitalismo faz.
Então poderíamos dizer que a vida comunitária absorveu esse conhecimento tradicional? Seriam essas as referências para pensarmos uma nova forma de economia, com experiências que já utilizamos no nosso dia a dia, mas que muitas vezes são desvalorizadas por serem saberes locais, por serem práticas executadas por quem está na base dessa pirâmide social?
A gente precisa passar a olhar pras nossas pequenas relações comunitárias, que são o que fazem com que a gente continue vivo. É claro que o dinheiro é importante, porque a gente vive nessa sociedade. Quem tem asma não consegue comprar remédio na farmácia se não tiver dinheiro. Nem sempre o governo vai oferecer uma unidade básica, uma farmácia popular que vá ter a medicação. Mas sabendo que vivemos nessa fronteira entre o mundo destrutivo do capitalismo e esse mundo dessas nossas microrrelações, do que a gente faz nos nossos bairros, nas nossas ruas, nas nossas famílias, como é que a gente pode valorizar isso nas nossas comunidades? Eu estava conversando com o Marco Davi de Oliveira, que é pastor, e com o Cosme Felippsen, [do Morro] da Providência, sobre como essas pequenas igrejas comunitárias — não estou falando de igrejas neopentecostais que estão querendo beber o sangue das pessoas —, essas organizações que têm forma de igreja e uma estrutura negra comunitária, são pequenos núcleos de articulação das comunidades e que às vezes a gente dá menos valor, porque o que importa mesmo é o que vai me permitir ir ao shopping comprar uma camisa nova e não aquilo que vai valorizar o trabalho da costureira da minha rua. As duas roupas podem ser bonitas, vão me proteger do frio ou me refrescar, mas por que vou desejar mais a do shopping? Às vezes a qualidade da costureira da rua é muito melhor.
Essa é uma disputa narrativa que muitas blogueiras de periferia têm feito. Partem de uma necessidade até econômica, pela falta de acesso ao que é mais desejado, e passam a fortalecer a costureira local. Isso me faz lembrar do que o senhor fala sobre o vulnerável deixar de receber algo que é pensado para ele e se tornar protagonista da relação.
É a Bioética da Intervenção. Ela vai ensinar pra gente que os sistemas de exploração fazem com que as pessoas mais vulneráveis se sintam impotentes, numa dependência do Estado, do mercado. E vai pensar como a gente media os conflitos que envolvem a vida e a saúde levando em consideração a capacidade das pessoas que ocupam as periferias do mundo.
Elas [as pessoas de periferias do mundo] não são naturalmente vulneráveis, essa vulnerabilidade é produzida para que as pessoas ocupem esse lugar. Ninguém nasce pobre, né?!
Wanderson Flor do Nascimento, filósofo e professor da UnB
O [antropólogo] Eduardo Viveiros de Castro diz uma coisa interessante no caso dos povos originários. A gente introduz essas pessoas no nosso sistema-mundo como pobres. E quem foi que disse que quem vive na floresta — pensando nas que vivem nas florestas, porque não são todas — é pobre por não ter a última TV LED, full HD? Elas são lidas como pobres por não terem o que o mercado entende que seja o desejo das pessoas e faz essas pessoas entrarem no sistema como pobres para que elas se tornem vulneráveis e, a partir disso, precisem ser inseridas nas nossas políticas, que vão fazer com que elas desejem exatamente aquilo que faz com que elas sejam pobres. As pessoas que foram vulnerabilizadas não estão desligadas do mundo em que vivem, então cabe incentivar que a gente observe as estratégias de resistência que estão nas favelas, nas periferias, nos quilombos, nas comunidades dos povos originários, nos ribeirinhos. E aí a gente vai conseguir ouvir outras vozes nesse debate em que a gente sempre é entendido como objeto, há sempre alguém pensando por nós, como se a gente fosse incapaz de pensar.
Por que eu não vou escutar a empregada doméstica que só fez até o ensino fundamental? Por que eu faço com que ela não ter uma faculdade a torne incapaz de pensar sua própria vida? Então, é valorizar o saber local, sabendo que ele é precário. O precário quer dizer que falta sempre algo que vai ser complementado pela relação com as outras pessoas. A precariedade aqui não é ruim, é aquilo que fortalece os vínculos comunitários. É o caso das costureiras. Entre as cantigas de umbanda e de candomblé, nas cantigas de caboclo, tem uma que fala das pedrinhas miudinhas ("Pedrinha miudinha/Na aruanda ê/Lajedo tão grande/A mais pequena é que nos alumei-a") que são importantes, que fazem com que a gente valorize o pequeno, o que está mais perto, porque é do mais próximo que a gente faz a comunidade. Uma Bioética de Intervenção aposta no saber que é mais próximo, e não nesse saber "universal" em que alguém está sempre pensando por mim e eu nunca escuto a pessoa que está do meu lado.
E como fica o papel do Estado nessa percepção?
O Estado é parte desse problema. Foi criado nessa relação de exploração racista, capitalista, patriarcal para gerir essas forças e fazer parecer que tudo faz parte de uma garantia de crescimento para a sociedade. O Estado não é benevolente, exerce seu poder de matar, que é uma de suas características fundamentais. Ao mesmo tempo é quem chamou pra si o poder de distribuir os serviços públicos. Nem sempre foi assim. Muitas sociedades originárias do nosso continente atribuem à comunidade, e não a um aparelho institucional, a necessidade de distribuir regular a terra, controlar o acesso à alimentação.
A Constituição de 1988 inverte essa noção e diz que temos que colocar parte da sociedade civil para fiscalizar o Estado, que toma forma através dos conselhos de segurança, de educação, de saúde. Eu acho que é aí que a gente tem que apostar, que a sociedade possa cobrar nessas esferas ouvindo as pessoas comuns. Não são os especialistas, os gestores públicos, os políticos profissionais, mas quem leva a pauta para as comunidades. Uma das coisas que o Estado fez nessas lógicas estranhas de repartir os conselhos foi colocar figuras que muitas vezes estão respondendo a interesses de empresas, o que faz com que o controle social não cumpra o papel pensado originalmente.
A gente precisa reocupar e ressignificar o uso do controle social para que essas outras vozes também sejam ouvidas.
Wanderson Flor do Nascimento, filósofo e professor da UnB
O grande desafio é fazer isso em tempos tão autoritários como os nossos, em que parte importante das comunidades estão desiludidas com a política. Eu moro numa periferia de Brasília e há uma grande quantidade de pessoas aqui que votou no governo Bolsonaro. É tentar entender o que desiludiu essas pessoas diante de um projeto de educação que fosse emancipatória. Que discurso é esse sobre corrupção que seduziu tantas pessoas, que fez com que promovessem o governo que a gente tem hoje, em que morrem 40 mil pessoas e se pergunta "E daí?". Numa comunidade, se um vizinho morre ninguém vai dizer isso, não é assim que funciona. É no coletivo que a gente consegue discutir o que a gente não concorda e tomar uma posição. Ao invés de procurar solução lá fora, a gente pode começar a olhar para essas pedrinhas miudinhas - uma associação, uma cooperativa, uma ONG pequena, criar uma dinâmica mais orgânica de observatórios, para que essas pessoas que estão desiludidas, ao invés de apostar em messias de qualquer natureza, possam se voltar para suas próprias comunidades e encontrar ali as alternativas.
Colaborou Fred Di Giacomo (edição), do data_labe
Esta reportagem faz parte da parceria entre data_labe, Gênero e Número, Énois e Revista AzMina na cobertura do novo coronavírus (Covid-19) com recortes de gênero, raça e território. Acompanhe nas redes e pelas tags #EspecialCovid #COVID19NasFavelas #CoronaNasPeriferias




















ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.